Colunas | Cinemateca
Embora raro, o tema da empregada doméstica já abriu oportunidades para belos filmes, não só no presente, como vimos no brasileiro Que Horas Ela Volta?, mas também no passado e em diferentes países. Examinamos a seguir alguns poucos mas brilhantes resultados.

Não faz muito tempo surgiu A Separação (Irã, 2011, 123 minutos), de Asghar Farhadi, que já havia chamado a atenção dos cinéfilos pouco antes com Procurando Elly (2009). Em A Separação, temos um casal moderno e urbano, vivendo em Teerã, em que ambos desenvolvem uma carreira. Quando o divórcio chega, provoca alterações de monta na vida não só de ambos, mas de todos ao redor. A empregada doméstica vai suportar os aspectos mais graves da mudança, que vão recair com maior peso sobre ela, que é a mais desprotegida, e de uma maneira que, ao que parece, ninguém previa. Premiadíssimo, inclusive com o Oscar, o Urso de Ouro berlinense e em Cannes.
 A ópera bufa La Serva Padrona (1733), de Pergolesi, narra a história de uma criada que tantas faz que acaba casando com o patrão. Para quem assiste hoje, passados trezentos anos, e lembra também de todas as Bodas de Fígaro (de Beaumarchais, de Mozart, de Rossini) que vão aparecer logo em seguida, em prosa, verso e música, dá para perceber que a luta de classes estava fervendo. Pode ser que os coevos não notassem, mas para olhos e ouvidos atuais descortina-se a burguesia avisando a aristocracia de que vai tomar o poder. As discussões deixam isso muito claro nessa ópera bufa. O que é curioso é que a brasileira Carla Camurati fizesse em 1998 (Brasil, 63 minutos) um filme dessa ópera, num DVD que pode ser comprado e assistido.
A ópera bufa La Serva Padrona (1733), de Pergolesi, narra a história de uma criada que tantas faz que acaba casando com o patrão. Para quem assiste hoje, passados trezentos anos, e lembra também de todas as Bodas de Fígaro (de Beaumarchais, de Mozart, de Rossini) que vão aparecer logo em seguida, em prosa, verso e música, dá para perceber que a luta de classes estava fervendo. Pode ser que os coevos não notassem, mas para olhos e ouvidos atuais descortina-se a burguesia avisando a aristocracia de que vai tomar o poder. As discussões deixam isso muito claro nessa ópera bufa. O que é curioso é que a brasileira Carla Camurati fizesse em 1998 (Brasil, 63 minutos) um filme dessa ópera, num DVD que pode ser comprado e assistido.
 Peau d’âne (Pele de Asno, Jacques Demy, França, 1970, 89 minutos) é um conto de fadas, advindo de priscas eras e primeiro publicado por Perrault, em que a linda princesinha foge de um pai incestuoso e passa a andar vestida com uma pele de burro. É óbvia a metáfora da animalização a que foi submetida, pois o incesto, praticado sem problemas pelos bichos, é medida civilizatória como proibição aos humanos. Ela se torna empregada doméstica no nível mais baixo, uma “souillon” (em francês, sujar), ajudante de cozinha para as tarefas mais sujas. Ao deixar cair seu anel num bolo, faz o príncipe, que o acha, convocar todas as garotas do reino para submetê-las à prova: se o anel se ajustasse a seu dedo, a feliz proprietária da joia se casaria com o príncipe e viria a ser rainha. A filmagem de Jacques Demy é de uma beleza extraordinária: uma féerie. Uma juvenilíssima Catherine Deneuve vive a princesinha. O diretor já tinha feito Os Guarda-chuvas de Cherbourg e ninguém mais indicado para transpor para a tela esse conto de fadas.
Peau d’âne (Pele de Asno, Jacques Demy, França, 1970, 89 minutos) é um conto de fadas, advindo de priscas eras e primeiro publicado por Perrault, em que a linda princesinha foge de um pai incestuoso e passa a andar vestida com uma pele de burro. É óbvia a metáfora da animalização a que foi submetida, pois o incesto, praticado sem problemas pelos bichos, é medida civilizatória como proibição aos humanos. Ela se torna empregada doméstica no nível mais baixo, uma “souillon” (em francês, sujar), ajudante de cozinha para as tarefas mais sujas. Ao deixar cair seu anel num bolo, faz o príncipe, que o acha, convocar todas as garotas do reino para submetê-las à prova: se o anel se ajustasse a seu dedo, a feliz proprietária da joia se casaria com o príncipe e viria a ser rainha. A filmagem de Jacques Demy é de uma beleza extraordinária: uma féerie. Uma juvenilíssima Catherine Deneuve vive a princesinha. O diretor já tinha feito Os Guarda-chuvas de Cherbourg e ninguém mais indicado para transpor para a tela esse conto de fadas.
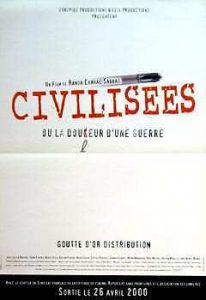 Um ângulo original e perspicaz é o do filme Civilisées (Líbano, 1999, 97 minutos), que se passa em Beirute, em plena conflagração. Civilisées é libanês e filmado in loco por Randa Chahal Sabbag. Ver para crer, mas o imbatível espírito humano consegue fazer humor até em cima dos horrores da guerra civil, que grassou no Líbano intermitentemente entre 1975 e 1990. Humor negro, é claro. A paisagem é de entulho, em plena Beirute reduzida a escombros. O espectador não consegue decidir o que é pior: se a mortandade indiscriminada, se os absurdos de uma vendeta que não cessa, se a decisão meio inconsciente de sobreviver a qualquer preço, se a cegueira das crianças entregues a folguedos letais. A graça do filme reside no viés de adotar o ponto de vista dos empregados domésticos – filipinos, srilanquês ou aldeões libaneses mesmo – para lá acorridos em busca dos altos salários. Os patrões, como era de esperar, foram para Paris, deixando aos fâmulos a tarefa de tomar conta de seus lares. Dos que ficaram, todos já estão ou um pouco ou completamente loucos. O espectador ri a contragosto, por exemplo, quando um gato camicase, portador de uma carga de dinamite acesa, em vez de correr para o alvo se agarra de unhas e dentes às calças de seu mandante. Ou ante o garotinho insistente que vive à caça de membros europeus dos Médicos Sem Fronteiras para propor seu sequestro aos beligerantes, que o enxotam sem lhe prestar ouvidos e sem saber o que estão perdendo.
Um ângulo original e perspicaz é o do filme Civilisées (Líbano, 1999, 97 minutos), que se passa em Beirute, em plena conflagração. Civilisées é libanês e filmado in loco por Randa Chahal Sabbag. Ver para crer, mas o imbatível espírito humano consegue fazer humor até em cima dos horrores da guerra civil, que grassou no Líbano intermitentemente entre 1975 e 1990. Humor negro, é claro. A paisagem é de entulho, em plena Beirute reduzida a escombros. O espectador não consegue decidir o que é pior: se a mortandade indiscriminada, se os absurdos de uma vendeta que não cessa, se a decisão meio inconsciente de sobreviver a qualquer preço, se a cegueira das crianças entregues a folguedos letais. A graça do filme reside no viés de adotar o ponto de vista dos empregados domésticos – filipinos, srilanquês ou aldeões libaneses mesmo – para lá acorridos em busca dos altos salários. Os patrões, como era de esperar, foram para Paris, deixando aos fâmulos a tarefa de tomar conta de seus lares. Dos que ficaram, todos já estão ou um pouco ou completamente loucos. O espectador ri a contragosto, por exemplo, quando um gato camicase, portador de uma carga de dinamite acesa, em vez de correr para o alvo se agarra de unhas e dentes às calças de seu mandante. Ou ante o garotinho insistente que vive à caça de membros europeus dos Médicos Sem Fronteiras para propor seu sequestro aos beligerantes, que o enxotam sem lhe prestar ouvidos e sem saber o que estão perdendo.
 Outro exemplo é o filme dirigido por Gary Sinyor e estrelado por Peter Ustinov, o divertidíssimo Os Esnobes (Inglaterra/Índia, 1998, 99 minutos). Leva o título original de Stiff upper Lips, fórmula metafórica para o ideal que dizem britânico de uma conduta impertérrita, jamais perdendo a fleugma. Peter Ustinov está impagável no papel de um plantador de chá na Índia, epítome do terror colonialista no seu auge. Situado na belle époque, quando a Inglaterra dava as cartas no mundo inteiro, glosa as relações de classe, especialmente entre nobreza e empregados domésticos, mas também as atitudes para com estrangeiros. Parte se passa em Cambridge, com todos os seus rituais de gente rica, parte na propriedade rural, parte em viagens por Itália e Índia. O grupo é composto nada menos que de tia solteirona, sobrinha núbil, sobrinho e amigo ambos colegas em Cambridge, o vigário da paróquia, e aderentes. No clássico Grand Tour vitoriano não dispensam, carregado num baú às costas do criado, um retalho do gramado de sua mansão rural, para ser desenrolado e servir de assento em momentos de nostalgia da pátria. O meio social do filme lembraria, se o grau de sátira fosse atenuado, a obra de Agatha Christie. Aparenta-se mais nitidamente a alguma ficção de Christopher Isherwood, no passado, ou mais recentemente à de David Lodge e Martin Amis. Os do ramo vão-se deliciar, porque o filme, a exemplo dos escritos desses autores, é juncado de alusões literárias. O colega do sobrinho cita Homero a qualquer propósito ou despropósito e se expressa em latim, originando os maiores disparates. Seu nome já é um programa: ele se chama Cedric Lionel Trilling (nome de um famoso crítico literário). Logo no começo, tem nas mãos um livro de E. M. Forster, dizendo identificar-se às personagens: como se sabe, o autor era gay e alguns de seus livros tematizam a questão. E uma cena decisiva para a solteirona alude ao episódio central de seu romance Passsagem para a Índia. Enfim, entre quiproquós e equívocos, em ritmo endiabrado, faz-se alegre e salutarmente o processo de um período que, para alívio geral, já passou.
Outro exemplo é o filme dirigido por Gary Sinyor e estrelado por Peter Ustinov, o divertidíssimo Os Esnobes (Inglaterra/Índia, 1998, 99 minutos). Leva o título original de Stiff upper Lips, fórmula metafórica para o ideal que dizem britânico de uma conduta impertérrita, jamais perdendo a fleugma. Peter Ustinov está impagável no papel de um plantador de chá na Índia, epítome do terror colonialista no seu auge. Situado na belle époque, quando a Inglaterra dava as cartas no mundo inteiro, glosa as relações de classe, especialmente entre nobreza e empregados domésticos, mas também as atitudes para com estrangeiros. Parte se passa em Cambridge, com todos os seus rituais de gente rica, parte na propriedade rural, parte em viagens por Itália e Índia. O grupo é composto nada menos que de tia solteirona, sobrinha núbil, sobrinho e amigo ambos colegas em Cambridge, o vigário da paróquia, e aderentes. No clássico Grand Tour vitoriano não dispensam, carregado num baú às costas do criado, um retalho do gramado de sua mansão rural, para ser desenrolado e servir de assento em momentos de nostalgia da pátria. O meio social do filme lembraria, se o grau de sátira fosse atenuado, a obra de Agatha Christie. Aparenta-se mais nitidamente a alguma ficção de Christopher Isherwood, no passado, ou mais recentemente à de David Lodge e Martin Amis. Os do ramo vão-se deliciar, porque o filme, a exemplo dos escritos desses autores, é juncado de alusões literárias. O colega do sobrinho cita Homero a qualquer propósito ou despropósito e se expressa em latim, originando os maiores disparates. Seu nome já é um programa: ele se chama Cedric Lionel Trilling (nome de um famoso crítico literário). Logo no começo, tem nas mãos um livro de E. M. Forster, dizendo identificar-se às personagens: como se sabe, o autor era gay e alguns de seus livros tematizam a questão. E uma cena decisiva para a solteirona alude ao episódio central de seu romance Passsagem para a Índia. Enfim, entre quiproquós e equívocos, em ritmo endiabrado, faz-se alegre e salutarmente o processo de um período que, para alívio geral, já passou.
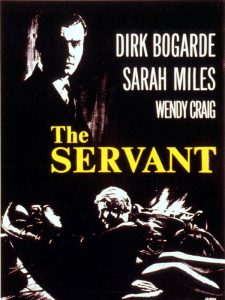 Ao grande Joseph Losey não escapou o que havia de opressão e exercício do poder nessa relação social. Explorou “a dialética do senhor e do escravo” em O Criado (The Servant, Inglaterra, 1963, 115 minutos), premiado com vários BAFTA, o Oscar inglês. O filme mostra como progressivamente tais laços vão gerando dependência mútua e consequências perversas. O excelente filme teve por roteirista um dos maiores dramaturgos ingleses, Harold Pinter, e deu tão bom resultado que a colaboração se repetiu em O Acidente (Accident, 1967), premiado em Cannes, e em O Mensageiro (The Go-between, 1970), premiado com o César francês. Os três filmes são considerados clássicos.
Ao grande Joseph Losey não escapou o que havia de opressão e exercício do poder nessa relação social. Explorou “a dialética do senhor e do escravo” em O Criado (The Servant, Inglaterra, 1963, 115 minutos), premiado com vários BAFTA, o Oscar inglês. O filme mostra como progressivamente tais laços vão gerando dependência mútua e consequências perversas. O excelente filme teve por roteirista um dos maiores dramaturgos ingleses, Harold Pinter, e deu tão bom resultado que a colaboração se repetiu em O Acidente (Accident, 1967), premiado em Cannes, e em O Mensageiro (The Go-between, 1970), premiado com o César francês. Os três filmes são considerados clássicos.
Losey, ainda principiante, foi à União Soviética, onde manteve contatos com Eisenstein no cinema e com Meyerhold no teatro. De volta aos Estados Unidos, foi assistente de direção de Bertolt Brecht, então exilado nesse país, na estreia mundial em Los Angeles da peça Galileu Galilei, que bem mais tarde filmaria. Apesar de todo esse extraordinário tirocínio, devido a suas ideias e a sua arte Losey tornou-se alvo do macartismo dos anos 1950 e da caça às bruxas que desencadeou, quando em qualquer canto escuro viam um comunista. Foi colocado na famigerada Lista Negra de Hollywood. Desempregado e perseguido, preferiu escapar para a Europa, onde construiria brilhante carreira, apesar de viver o resto da vida como exilado na Inglaterra. Mostrou-se sempre atento aos embates entre as classes. Ainda ganharia o César francês de melhor filme e melhor direção com Monsieur Klein (1976), estrelado por Alain Delon e Jeanne Moreau.
Walnice Nogueira Galvão é professora emérita da FFLCH da USP e integra o Conselho de Redação de Teoria e Debate.
