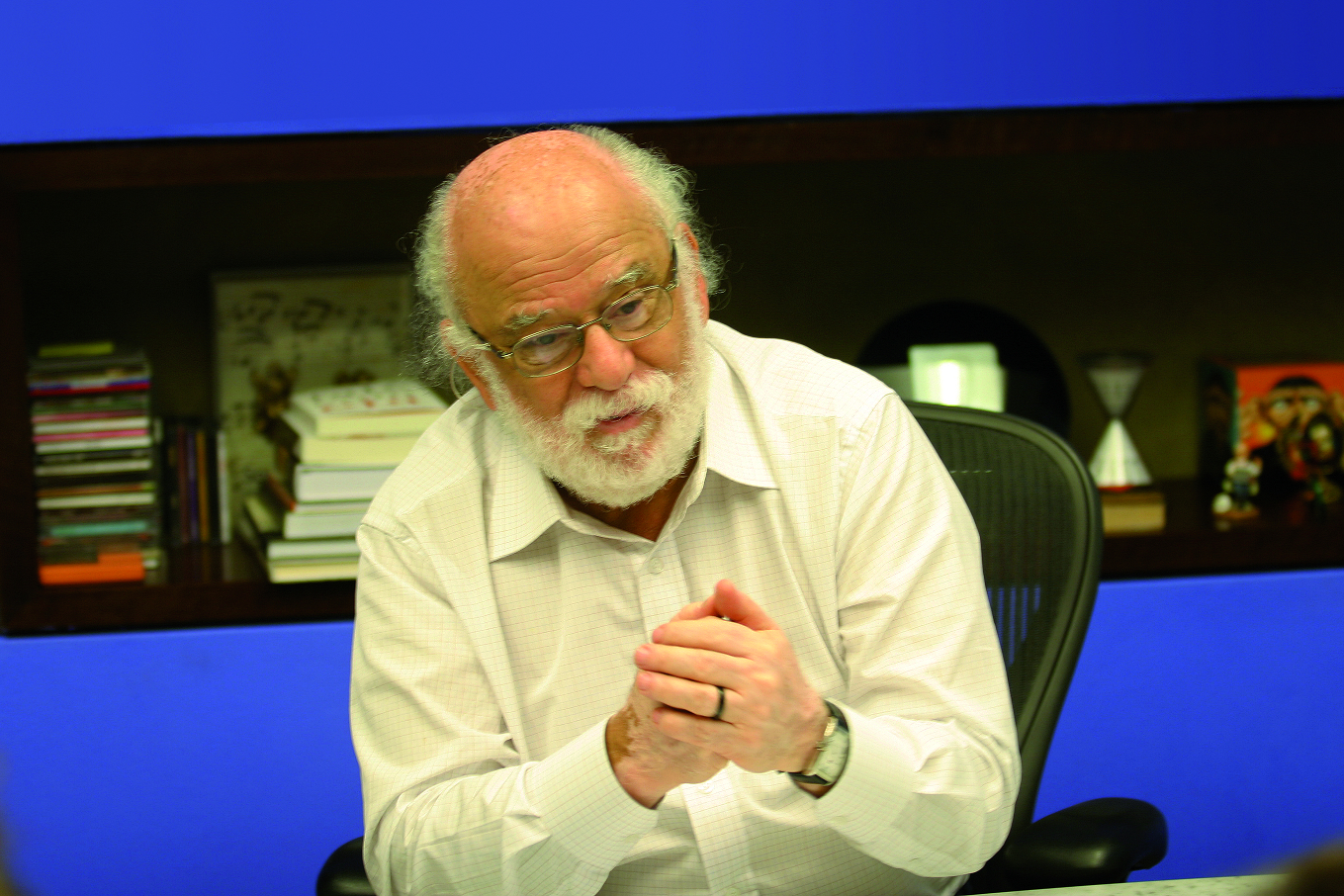Entrevista com Danilo Miranda
Cultura
[nextpage title="p1" ]
O Sesc está presente em todos os estados do país e no Distrito Federal, mas é na regional de São Paulo que os números mais chamam a atenção. Freqüentam as trinta unidades paulistas mais de 3 milhões de pessoas por ano, que usufruem atividades de cultura, educação, lazer e saúde, possíveis graças a uma boa gestão e a um orçamento anual em torno de R$ 400 milhões. À frente da instituição no estado está Danilo Santos de Miranda, diretor regional desde 1984
O Sesc é um modelo de democratização da cultura, tem programa para todas as idades, em todos os bairros, por mais distantes que sejam, a preços acessíveis. É uma instituição que faz mais pela cultura do que os órgãos oficiais nessa área. Como se explica isso?
O Sesc nasceu de uma conjunção de fatores muito curiosos. Sabemos que o empresariado, de modo geral, não prima por uma posição democrática do ponto de vista cultural e social. No que diz respeito a negócios, quer absoluta liberdade, tanto que a livre iniciativa é seu grande paradigma, o liberalismo assumido. Mas, cada vez mais, percebe-se a importância de instâncias reguladoras, que de alguma forma organizem esse processo para garantir direitos.
A impressão que eu tenho é que, quando o Sesc foi criado nos anos 40, um grupo de empresários se deixou influenciar, ou foi influenciado, por pessoas com visão de futuro. A grande maioria não tinha essa perspectiva. Portanto, intelectuais da época, especialistas na área social e cultural, ganharam alguma importância, porque fizeram uma matriz de organização que, em primeiro lugar, estabelecia o financiamento; em segundo, garantia certa independência e relativa autonomia de atuação; em terceiro, tinha o propósito de criar uma sociedade de bem-estar, voltada para a qualidade de vida. Ou seja, sabiam que o empresariado tinha obrigações de ordem econômica para com a sociedade. Isso num período muito especial, no pós-guerra, quando as democracias ganharam no mundo inteiro. No Brasil, havia o crescimento das propostas de valorização dos trabalhadores, de forma empiricamente organizada, não como temos hoje. Eram organizações tanto com uma visão marxista como ligadas à Igreja, ao operariado mais consciente. Se o empresariado não tivesse o cuidado de gerar alguma solução para o equilíbrio social, poderia correr o risco de ver o país virar. Já tinha visto uma ameaça com a famosa Intentona Comunista de 35.
Aliás, a Intentona é a única da história do Brasil e do mundo.
Havia o risco do comunismo, “aquela fera perigosíssima”, e o empresariado estava assustado. Então, provavelmente decidiram abrir mão de alguma coisa, pagar, uma vez que o Estado não tinha condições de resolver questões que atendessem ao anseio da sociedade. Estávamos no início do processo de industrialização, que criou as condições no Brasil para uma base industrial razoável.
Antes só havia agroindústria e indústria têxtil. Não havia siderurgia, indústria pesada, de energia e de infra-estrutura. Nesse momento, tem início a indústria brasileira, graças ao “presente” do governo americano – como recompensa pela nossa participação na Segunda Guerra –, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a primeira empresa de produção de aço no país, instalada no Brasil nos anos 40. Daí o Estado brasileiro pôde criar, logo em seguida, a Petrobras. Enfim, era um momento de nacionalização das bases de uma sociedade industrial com infra-estrutura um pouco mais consistente.
Além disso, era também um momento relevante do ponto de vista cultural. Vivemos nos anos 40 o amadurecimento de uma verdadeira reflexão sobre a cultura brasileira, que havia se iniciado com a Semana de Arte Moderna, nos anos 20, com grandes pensadores da época, em um movimento liderado por São Paulo mas nacional. Graça Aranha, Di Cavalcanti, Villa-Lobos, por exemplo, não eram paulistas.
Para mim, além de Caio Prado, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre, Antonio Candido, grandes nomes que ajudaram a criar um pensamento mais autônomo da cultura brasileira são Mario de Andrade e Oswald de Andrade. Teve papel relevante também essa nossa realidade que mistura conhecimento europeu, influência negra e índia, de uma forma nova. Daí vem a verdadeira literatura produzida naquele momento, com Jorge Amado, Graciliano Ramos, José Lins do Rego – os grandes nomes do Nordeste.
Com a urbanização intensa, o processo de industrialização, a migração do campo para a cidade, São Paulo, que até então tinha pouco mais de 1 milhão de habitantes, começa a explodir. Os empresários percebem que precisam fazer alguma coisa. Assim, com recursos provenientes das empresas, são criadas algumas organizações para possibilitar, em primeiro lugar, a formação profissional dos trabalhadores para o comércio e a indústria. Nasce então a primeira delas, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o Senai. É interessante observar que a educação profissional é a primeira preocupação para a indústria, em 1942. Em seguida é criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o Senac, direcionado à administração, gestão, organização de escritórios, de toda a parte da infra-estrutura necessária para os serviços. Depois vieram o Serviço Social da Indústria, o Sesi, e o Serviço Social do Comércio, o Sesc.
Esses dois são criados porque, além da formação profissional e dos direitos trabalhistas que vieram a ser garantidos por Getúlio no início dos anos 40, há a necessidade de proporcionar algum bem-estar ao trabalhador. Então o Estado faz um acordo com o empresariado: o governo garante em lei que todo mundo pague e o empresariado administre. A lei institui um imposto patronal, uma contribuição proveniente das empresas, calculado em cima da folha de pagamentos. O número de funcionários é que determina a necessidade de uma contribuição maior ou menor da empresa.
É por número de funcionários ou volume salarial?
É um percentual sobre salário de empregado, não é sobre o faturamento. Trata-se de um percentual simbólico, pequeno, que no decorrer destes sessenta anos diminuiu. Perceberam que era uma solução interessante. Nos últimos anos acrescentaram algumas outras instituições parecidas. Então, nesse galho de onde passou a vir recurso foi-se pendurando muita coisa, começou a vergar e pode quebrar de uma hora para outra, pondo em risco quem se utiliza disso de maneira adequada.
Essa é um pouco a origem do chamado Sistema S. Particularmente, sou um pouco refratário a esse nome, porque no Sistema S são colocadas numa mesma categoria realidades muito diferentes, com objetivos diferentes.
[/nextpage]
[nextpage title="p2" ]
E quais são os objetivos do Sesc?
O Sesc tem muito claro o seu DNA, o que compõe sua cadeia genética, o que faz a instituição ser o que é. O Sesc tem, na origem, um programa de bem-estar social que hoje se traduz por qualidade de vida, acesso a cultura, informação, conhecimento, saúde, enfim, acesso a uma vida saudável. Mas isso é um programa de governo! A pretensão no início era essa. Por isso, temos muita proximidade com programas e objetivos de caráter público, para uma clientela prioritariamente definida, que são os trabalhadores do comércio e serviços, seus dependentes e a população em geral, como decorrência. Nestes sessenta anos, a estratégia da instituição foi migrando de metodologias várias até encontrar uma que fosse abrangente e concreta: ação sociocultural para a população comerciária, trabalhadores na área de serviços e público em geral. Isso nunca foi tratado de maneira muito objetiva no início. Mas tem fundamentos conceituais, na medida em que uma ação cultural destinada a uma clientela definida dentro da população pode impedir, em parte, que o restante tenha acesso. Não há como restringir cultura e determinados níveis de informação, não tem sentido. Então, priorizamos os trabalhadores, porque as empresas é que pagam a conta, e isso se dá de maneira muito clara, sobretudo no beneficiamento e facilitação do acesso. Simplificando, desconto em entrada, preferência na hora de fazer opções para determinadas atividades etc.
O Sesc tem instalações em Itaquera, Interlagos, Santo André, São Caetano. Ir ao Belenzinho à noite pode ser difícil para quem mora no Jardim Paulista, mas o que se oferece em uma unidade não se oferece em outra. Vocês trouxeram um artista de Paris direto para expor em Santo André (SP). É muito democrático, é a desconcentração da cultura. Em São Paulo há uma grande concentração de museus, teatros, cinemas no Centro.
Fazemos isso de propósito. Há uma visão um pouco deturpada da sociedade, que se organiza dando preferência para a classe dominante. Temos a intenção muito clara de atingir esse processo de democratização. Isso força o Sesc a trazer a qualidade, que tem caráter central, para a periferia. Em 1975, em plena ditadura, o Sesc decidiu fazer o centro campestre em Interlagos. Causou certo espanto, porque usamos os melhores materiais, um tipo de construção e de intenção muito próprio das classes privilegiadas, voltado para o trabalhador de periferia.
Como se organiza a instituição nacionalmente?
A governança da instituição, desde o início, foi atribuída aos empresários de uma forma bem clara e numa perspectiva de cunho privado mas com controle público. Quando o Sesc foi criado, em 1946, o regulamento já estabelecia que o Tribunal de Contas da União fiscalizasse a aplicação dos recursos. Estou falando de uma instituição no Brasil inteiro. A governança é muito importante, tendo em vista o caráter regional. Cada estado cria suas condições e realiza dentro do espectro de programas de bem-estar social aqueles mais adequados a sua realidade. Norte e Nordeste têm necessidades diferentes das de São Paulo, alfabetização de base, por exemplo. Têm programas mais definidos nessa direção, como alimentação do trabalhador. São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados têm programas mais ligados ao lazer, à cultura e ao esporte.
O direcionamento da verba tem a ver com a arrecadação? O que cada estado arrecada é o que ele tem para aplicar?
Em qualquer arrecadação de ordem nacional, São Paulo tem mais. É o estado que concentra força econômica, enorme quantidade de empresas e empregados. O Sesc foi criado com um caráter redistributivista. Isso é muito original no Brasil: 20% dos recursos recolhidos em todo o país são redistribuídos para lugares onde há menos recursos, portanto, mais carências. Na prática, são cinco ou seis estados que têm mais recursos. É uma perspectiva dos impostos em nível nacional: o que a União arrecada em São Paulo não pode ser usado somente no estado. Esse é o sentido da Federação e da República. Os quatro Ss originais – Sesc, Senai, Sesi e Senac – têm fiscalização nacional e caráter redistributivista, o que os aproxima muito das políticas públicas.
O Sesc começou com cada estado autônomo, numa perspectiva assistencialista e paternalista. Empresários com alguma condição tiraram dinheiro “do bolso” para criar um fundo, mais moderno do que muitas ações de responsabilidade social de hoje.
A referência que se faz aqui é a instituições que se valem de isenção fiscal para “promover” cultura?
Há quem veja como um avanço enorme que empresas assumam ações de responsabilidade social. No entanto, elas o fazem em nome de suas fundações ou suas diretorias, ou de sua marca. E com isso agregam os tais valores do marketing, podendo ganhar dimensão de uma empresa cidadã, mas o nome dela está lá. Os maiores financiadores do Sesc no Brasil são o Pão de Açúcar e a Rede Globo, e no entanto nunca se ouviu falar que a entidade esteja fazendo alguma coisa em nome de uma dessas empresas. Elas ajudam a pagar, há “socialização do prestígio”, algo muito mais adequado para uma sociedade republicana do que o recurso proveniente de um banco, que tem isenção fiscal, portanto recurso público, aplicado em uma fundação do próprio banco. Não é errado, mas não é abrangente como o nosso.
Como se deu a mudança de enfoque, antes assistencialista?
As coisas não eram vistas sob o enfoque do respeito à igualdade, à dignidade, tinham cunho filantrópico e qualitativo. Ao poucos, por meio da comunidade técnica que atua no Sesc (cito o de São Paulo) a instituição foi abrindo caminho, fazendo uma reflexão mais aprofundada sobre o trabalhador, buscando especialistas no mundo. Percebemos que quando o pacto é feito entre empresários e governo, o trabalhador não está presente. Isso para nós, hoje, é um crime, mas na época não era fundamental, era moderno fazer daquele jeito. Como era moderna a Carta da Paz Social, documento que hoje poderia ser assinado pela CUT, em que empresários nos anos 40 discutem a importância da empresa, sua função social, e do envolvimento do empresário na perspectiva da melhoria das condições de vida do trabalhador, relações de trabalho, o não-trabalho, o tempo livre e o lazer. Daí toda uma política voltada para a ocupação desse tempo livre de uma maneira produtiva e adequada: há uma perspectiva educativa como elemento vital para esse desenvolvimento. Hoje a instituição está voltada para a educação permanente, de modo a estimular a autonomia do trabalhador e dos freqüentadores do Sesc. Para isso, proporciona um cabedal imenso de informações por meio da cultura, do lazer, do esporte inclusivo. O esporte e o tempo livre são importantes e a instituição vai percebendo aos poucos que a cultura tem papel relevante na transformação das pessoas. Por isso a democratização da cultura acaba sendo um objetivo fundamental; daí promovermos o bem-estar sociocultural.
E esse “cultural” não diz respeito somente a artes e espetáculos e mesmo ao patrimônio e à memória, refere-se ao ser humano, às suas relações. Elegemos clientelas excluídas, como o idoso e a criança, que não estão em situação de risco comportamental ou político, mas de vulnerabilidade econômico-social.
O Sesc é reconhecido pelo trabalho que desenvolve com idosos, falenos um pouco sobre esse público.
Por conhecermos essa questão a fundo, a Fundação Perseu Abramo nos procurou para a realização da pesquisa sobre idosos. Desde os anos 60 atuamos junto ao idoso para ajudá-lo a descobrir caminhos, e nunca de uma perspectiva paternalista. Oferecemos informação e todo o tipo de atividade, física inclusive. No Sesc Pinheiros, instalamos equipamentos de ginástica próprios para trabalhar o equilíbrio, a percepção do piso, o tátil... Os idosos têm dificuldades naturais, por isso esses equipamentos são apropriados para atividades físicas, quando membros, músculos e ossos estão ligeiramente mais enfraquecidos. Nosso programa para idosos hoje é intergeracional. Numa sociedade organizada, normal, as pessoas convivem com idades diferentes. Não segregamos o idoso. Da existência humana, temos de lidar com tudo, começo, meio e fim.
No Sesc Consolação, fizemos uns quatro anos seguidos uma grande ação voltada para a atividade cênica, teatral, musical, que mistura idosos, jovens, adultos, crianças apresentando-se conjuntamente. Vocês nem imaginam como isso revitaliza o idoso.
Como foi esse trabalho?
O André Abujamra montou uma espécie de ópera em que os idosos cantavam, dançavam, representavam, um processo progressivo que tem esse caráter educativo fundamental. Grande parte dos idosos é sozinha ou não está incorporada à família, na metrópole moderna. Não queremos substituir a família, mas pretendemos que a sociedade seja normal, que as pessoas convivam dentro de normas, com acompanhamento adequado. Vamos divulgar nossa pesquisa no Brasil todo.
[/nextpage]
[nextpage title="p3" ]
A programação do Sesc é vasta, como você a sintetizaria? Tem ikebana, rap, música eletrônica, tai chi chuan, teatro... É definida em função da unidade e do perfil do público que a freqüenta?
Os equipamentos e a arquitetura são diferentes em cada unidade. Existe uma série de elementos que orientam as vocações dos espaços. Eu não posso colocar os Racionais MC no Sesc Anchieta com 300 lugares. Eles têm de se apresentar onde caibam milhares de pessoas, como já fizemos sem problema nenhum.
Temos uma perspectiva de democratização e facilitação de acesso. O Sesc que vem à cabeça sempre quando falo disso é o Pompéia, uma rua que entra, sem bloqueios visíveis, catraca ou portaria. Futuramente, na Rua 24 de Maio, perto da Galeria do Rock, vamos ter uma unidade em que o térreo será também integrado com a rua. É uma pracinha coberta que se mistura com a rua; esse é o Sesc ideal. Esse conceito do acesso que facilita entrar da rua é a essência da nossa proposta de democratização.
Uma vez dentro, há muitas possibilidades, uma oferta bastante ampla, do ponto de vista do custo, da linguagem e do tempo – moderna, tradicional, antiga. Há respeito a todas as tendências. Para a gente, rap, ópera, clássico, moderna, dodecafônico, tudo isso cabe, desde que tenha qualidade e uma proposta educativa.
Tivemos recentemente uma companhia de teatro polonês que se apresentou no Sesc Pompéia do lado de fora. O espetáculo era em polonês, tratava de intolerância, falava da Bósnia. Queimavam uma parte do cenário, era bem agressivo, havia estupro, purificação racial, limpeza étnica, uma realidade do centro da Europa. O freqüentador da parte dos fundos do Sesc Pompéia, o pessoal do esporte (ginásio, piscina etc.), que freqüenta menos a parte cultural,na frente, assistiu àquilo envolvido e encantado. Nem eles sabiam que gostavam. Então, queremos oferecer coisas que às vezes as pessoas nem sabem que apreciam ou que podem apreciar. Não foi feito com essa intenção, mas pode acontecer.
Essa idéia de contemplar todas as tendências permite que a gente atue de maneira muito diversificada. Somos uma instituição que se utiliza, de maneira bastante adequada, da cultura e do esporte para a promoção do desenvolvimento sociocultural; uma instituição de educação permanente, informal. O Sesi optou pela educação escolar. A vocação e a perspectiva do Sesc, e por conseqüência o resultado extraordinário da instituição do ponto de vista da aceitação, do crescimento, do seu avanço, têm muito a ver com a opção por oferecer uma educação mais livre. Temos, por exemplo, o programa Sesc Curumim, voltado para os filhos de trabalhadores que têm, fora do período escolar, necessidade de algum tipo de suporte, de reforço escolar. Há educação complementar voltada para a cultura, o lazer, o meio ambiente, a vida social, em todas as nossas unidades. As crianças não têm obrigações como caderneta, presença obrigatória e nota. É apenas um local para estar de maneira organizada com consultores que acompanham a criança, que vêem as exposições, convivem com idosos etc.
Quais são as grandes ações que o Sesc realiza?
As grandes linguagens artísticas – artes visuais, cênicas, música, literatura, dança – estão todas presentes e com todas as tendências em cada uma delas, nas diversas ações. Isso do ponto de vista da cultura voltada para as artes. É um ponto forte de nossas ações a atividade física como proporcionadora de bem-estar, uma vez que oferecemos informação adequada sobre como cuidar do corpo com exercício, caminhada e alimentação. Há uma grande quantidade de programas voltados para a atividade física, saindo da banalização do fitness, da malhação, ganhar musculatura... Isso é decorrência, o principal é o condicionamento físico e o bem-estar de acordo com a faixa etária.
As instalações das unidades são bem pensadas. A arquitetura é um componente forte da instituição?
Apesar de ter sido criado em 1946, somente nos anos 60 é que o Sesc teve instalações construídas para a instituição. A unidade Consolação foi a primeira em que convidamos um arquiteto para bolar o prédio, Icaro Castro Mello, especializado em construções esportivas. Com o desenvolvimento de unidades próprias, a arquitetura passa a ganhar papel relevante como ferramenta para a educação que o Sesc oferece. E depois vem Lina Bo Bardi, nos anos 70, que fixa uma marca.
Vocês também investem na área de saúde...
Em saúde, há uma aplicação de recursos bastante acentuada. Temos, por exemplo, uma rede de atendimento odontológico, no país inteiro. Em São Paulo são aproximadamente 250 cirurgiões-dentistas e 120 gabinetes odontológicos espalhados pelo estado, isso somente para o comerciário, que paga pouco e facilitado.
Como o Sesc consegue proporcionar atividades de alta qualidade a preços tão baratos?
Há algumas estratégias, temos algumas máximas que definem um pouco nossa atuação. Uma delas é não haver nenhuma perspectiva de caráter comercial, nosso retorno é cultural, social, institucional, o financeiro vem em quinto ou sexto lugar, porque recebemos recursos das empresas. Não temos por que disputar patrocínio nem estamos preocupados com o lucro. Nossa ação tem caráter redistributivista em todos os sentidos, até mesmo de subsidiar o trabalhador para que ele possa ter alimentação, acesso à cultura, às férias, a tratamento odontológico e à informação de maneira adequada. Então subsidiamos.
Recentemente circulou abaixo-assinado para que o Sesc não perdesse recursos em função do Simples Nacional, o chamado Supersimples. Como ficou isso?
A lei ainda não entrou em vigor. Não temos certeza se as empresas vão aderir de fato ao Supersimples. Se todas as empresas que puderem aderir ao Supersimples o fizerem, o Sesc vai ter prejuízo. A nova legislação contempla o comércio, o que simplifica a vida das empresas, mas a forma encontrada não foi a melhor.
Nossa demanda cresceu. Temos cada vez mais gente freqüentando nossas unidades, seja comerciário ou não, e com isso aumenta o subsídio. Vamos chegar a um limite daqui a algum tempo. Há um risco mais à frente de termos menos recursos para investir e maior dificuldade para manter o que já existe. Precisamos crescer de maneira muito cuidadosa; é preciso sustentar depois, seja com a programação, seja com parcerias. Temos um plano de expansão permanente, estamos crescendo em São Paulo, temos trinta unidades e várias estão em andamento, em Santo Amaro, no Bom Retiro, no Belenzinho.
Qual a razão da mudança da sede administrativa para o Belenzinho?
Percebemos que poderíamos transformar o prédio na Avenida Paulista em uma nova unidade. Achamos conveniente mudarmos para uma área do Belenzinho, uma unidade imensa, e ter uma nova unidade na Paulista, lugar de fácil acesso, ao lado da estação do metrô. Instalamos a administração geral do Sesc numa antiga fábrica do Moinho Santista, com estacionamento, ambiente de trabalho adequado e estamos construindo ao lado nossa unidade nova, que será a maior de todas.
Tudo faz parte da filosofia que nos rege, como a aproximação com a zona leste, que é a maior da cidade de São Paulo. Muita gente estranhou: “Como? Deixar a Paulista, a sede dos grandes organismos financeiros, e ir para a zona leste?” É de propósito. A intenção é dar relevância a essa região da cidade, que está vivendo um momento de revitalização.
Quantas pessoas freqüentam as unidades do Sesc?
Entre 250 mil e 300 mil pessoas no estado, por semana. Algumas unidades têm mais, outras menos, o que dá mais de 1 milhão de entradas por mês. Se a pessoa vai todos os dias, é contada todas as vezes. Mais de 80% é na capital. No alto verão há 25 mil pessoas num dia, nas trinta unidades. Nossa filosofia é contemplar a inovação, a identidade nacional, o acesso, a democratização, o respeito a todas as tendências, e fazer o que os outros não podem fazer ou não querem fazer. O Sesc realiza muita coisa importante e necessária para a sociedade, mas que outras instituições não demonstram interesse em fazer. Então, ou fica a cargo de uma instituição pública, ou é feito por uma instituição como a nossa, que embora privada tem essa preocupação de ordem pública.
Quem pode contemplar, por exemplo, um artista como o Zé Celso, que tem uma proposta inovadora, transgressora do ponto de vista cultural, que assusta o estabelecido, até mesmo os mais progressistas? Ele é vital para nossa sociedade, ajuda a respirar, a enxergar o mundo. É um homem livre, e o artista que não for livre não é artista. O trabalho do Zé Celso não sobreviveria se não fosse o apoio público ou de instituições como o Sesc; tem o Teatro Oficina, que é tombado pelo estado, e sua companhia muitas vezes se apresenta no Sesc.
E o trabalho com a identidade nacional?
Para conseguir um caráter nacional, temos de valorizar a produção do país, mas é preciso também valorizar o global, tem de haver diálogo. Por isso trazemos tanta gente de fora e levamos coisas nossas para fora também. Tivemos algumas atividades no exterior, bancadas pelos países anfitriões. Uma foi levar os meninos do grupo do Ivaldo Bertazzo para Paris e Holanda e, recentemente, levamos uma coleção de arte naïf para Chicago. A exposição da arte popular do Molina foi para Paris no ano do Brasil na França. Esse intercâmbio com o exterior é importante, educativo. Vamos trazer este ano o Théâtre du Soleil – não o Cirque du Soleil – da Ariane Mnouchkine; será um fato extremamente relevante do ponto de vista cultural na cidade de São Paulo e no Brasil.
Como é a relação institucional com o Ministério da Cultura?
Há uma carência com relação aos órgãos da administração de cultura do país. Temos observado um esforço grande no sentido de buscar saídas e vemos que o panorama tem melhorado bastante. Realizamos alguns programas juntos. Há o programa Cultura e Pensamento, que organiza a reflexão e o debate sobre temas ligados à cultura no Brasil inteiro; há outro voltado para a arte popular e para as populações indígenas. Um índio de determinada tribo liga para o órgão responsável por captar as propostas e grava o que pretende fazer com relação a tradição, música, dança. Isso vira uma inscrição documentada, gravada em uma fita, e pode ser premiada. Naturalmente existe um acompanhamento da aplicação do recurso para ver o resultado, mas é tido como prêmio. Hoje temos uma relação muito aberta com o ministro Gilberto Gil e seu gabinete. É preciso avançar mais para definir de maneira mais clara que efetivo interesse para a cultura têm os diversos convênios, sem se deixar levar pelas influências do marketing, da publicidade e do lobby. Esse problema, embora com dificuldade, o ministério tem enfrentado. Não acho que sejam adequadas concepções de ordem totalizante. Por exemplo, existe no Ministério da Cultura o Sistema Nacional de Cultura. Entendê-lo como forma de obter informação para facilitar decisões é bom. Mas vê-lo como forma de passar informação, captar recursos e ter algum tipo de controle do que se faz no campo da cultura é uma visão absolutamente perigosa e fascista. Acho que a primeira hipótese é a que prevalece e espero que assim seja sempre. Essas coisas em nível nacional, comissões, conselhos, me assustam. A diversidade da ação cultural exige certa liberdade, flexibilidade, desorganização, se assim você preferir. A transgressão é indispensável para criar, não haveria arte se não houvesse a transgressão, produtiva, criativa, inteligente. Na cabeça das pessoas que têm responsabilidade por administrar qualquer pedacinho da questão cultural, isso tem de estar presente. Se deixar-se levar pelo mote da indústria cultural de que tem de dar resultado, lucro, está perdido. Há quem pergunte: “Qual é o seu produto?” Eu não tenho produto nenhum.
Rose Spina é editora de Teoria e Debate
Walnice Nogueira Galvão é crítica literária, integra o Conselho de Redação de Teoria e Debate
[/nextpage]