Internacional
Uma possível "nova época asiática" e a discussão da atualidade ou não das teorias de Adam Smith, Marx e Schumpeter são colocadas em cena por Giovanni Arrighi, ao rastrear o que chama de "turbulência global"
[nextpage title="p1" ]
A Editora Boitempo lançou, em português, uma alentada obra de Giovanni Arrighi, Adam Smith em Pequim. Esbanjando erudição, Arrighi, segundo Theotonio dos Santos, deixa "um rastro de inquietação intelectual no Brasil" em virtude , do "abismo que vem se cavando entre a intelectualidade brasileira e o pensamento da esquerda mundial".
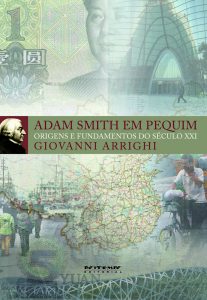 Não há forma segura de comprovar essas assertivas, mas não deve haver dúvidas de que é preciso tê-las como probabilidade. O que obriga, quem quer que pretenda analisar a atual situação mundial, a ler e a debater a obra de Arrighi. Ao rastrear o que chama de "turbulência global", aquele pensador coloca em cena uma possível "nova época asiática" e a discussão da atualidade ou não das teorias de Adam Smith, Marx, Schumpeter e dos cientistas sociais dos Estados Unidos.
Não há forma segura de comprovar essas assertivas, mas não deve haver dúvidas de que é preciso tê-las como probabilidade. O que obriga, quem quer que pretenda analisar a atual situação mundial, a ler e a debater a obra de Arrighi. Ao rastrear o que chama de "turbulência global", aquele pensador coloca em cena uma possível "nova época asiática" e a discussão da atualidade ou não das teorias de Adam Smith, Marx, Schumpeter e dos cientistas sociais dos Estados Unidos.
Arrighi parte do pressuposto de que a política, a economia e a sociedade mundial vêm sendo configuradas por dois fatos incontestáveis: a ascensão e o abandono do neoconservador Projeto para o Novo Século Norte-Americano e o surgimento da China como líder do renascimento da Ásia Oriental. A análise da transferência do epicentro da economia política global da América do Norte para a Ásia Oriental, feita à luz das teorias de Adam Smith sobre os mercados, apontaria para a conformação de um "mercado global não capitalista".
Para demonstrar essa tese central, Arrighi argumenta que Adam Smith teria razão ao afirmar que a potência econômica da China, no século 18, chegara a um equilíbrio entre oferta e mercado, sacrificando a acumulação capitalista. No século 19, a China teria um padrão de vida semelhante ao da Europa. Seu avanço teria sido solapado pelo poderio militar europeu. Nos diversos capítulos da obra, Arrighi vai e volta nas tentativas de evidenciar as causas que levaram a "dinâmica smithiana comum à Europa e à Ásia Oriental" à Grande Divergência, com "efeitos opostos": na Europa, a Revolução Industrial; na Ásia Oriental, o fracasso da Revolução Industriosa.
O "caminho capitalista ocidental", de "uso intensivo de capital e de recursos energéticos" teria sido fruto da Revolução Industrial. Esta teria permitido ao caminho ocidental suplantar a Revolução Industriosa do "caminho de mercado da Ásia Oriental" Agora, porém, havendo o caminho ocidental atingido seus limites, as condições para a dinâmica smithiana retomar seu curso estariam dadas, permitindo o "renascimento" da Ásia Oriental, caracterizado pelo uso intensivo de mão-de-obra e baixo consumo de energia.
Problemas históricos
Esses argumentos sofrem de problemas históricos graves. Desdenham a luta de classes, entre mercadores e feudais, que se desenrolou durante todo o período que vai, aproximadamente, do século 7 ao século 17. Essa luta levou, em alguns reinos, à vitória dos mercadores burgueses contra os feudais. Em outros, à vitória dos feudais sobre os mercadores.
Arrighi despreza os resultados particulares daquela luta de classes. Primeiro, em Portugal e na Espanha e, depois, na Holanda, Inglaterra e França, que levaram ao mercantilismo. Finalmente, na China, que saíra quase um século à frente dos europeus na expansão do comércio marítimo, mas sofreu, a partir da dinastia Ming, aquilo que alguns autores chamam de "involução".
No início do século 15, as frotas marítimas chinesas, utilizando avanços técnicos que os europeus só incorporaram depois, como embarcações de grande porte, já haviam criado uma rota de transporte marítimo intenso, que ia até a costa oriental e o chifre da África. Os mercadores chineses negociavam com os reinos do sudeste da Ásia, do subcontinente indiano, da África Oriental e da Arábia tanto os produtos de suas manufaturas quanto os produtos artesanais e agrícolas desses reinos.
Da mesma forma que, um século depois, esse mesmo tipo de comércio enriqueceu alguns reinos europeus, no caso chinês ele carreou imensas riquezas para a dinastia Ming. Porém, do mesmo modo que o mercantilismo europeu foi o centro da luta entre burgueses e feudais, o mercantilismo chinês acirrou a disputa entre os feudais e os mercadores, estes considerados por aqueles como classe de segunda categoria.
Enquanto na Europa várias monarquias subjugaram os feudais e se aliaram aos mercadores na exploração marítima e de outras terras, na China ocorreu o contrário. Os setores da nobreza Ming, favoráveis aos mercadores, foram incapazes de apoderar-se da monarquia, como fez João de Avis, em Portugal, estabelecer a aliança com os mercadores e enquadrar os feudais.
Enfraquecida pelas disputas internas, a dinastia Ming ainda enfrentou bem a primeira globalização colonial das novas potências europeias, iniciada no final do século 15 e continuada durante os séculos 16 e 17. Mas, ao proibir as viagens marítimas, com a consequente destruição da frota, abandonou qualquer pretensão de participar da onda de descobertas, que transformaram o mundo.
Portanto, quando uma parte da nobreza Ming aliou-se ao reino militarista manchu e patrocinou tanto sua invasão sobre a "nação do meio" quanto sua instalação como dinastia Qing, em meados do século 17, os Ming já tinham fechado a China no autarquismo feudal, recolocado os mercadores no lugar que supunha caber-lhes na hierarquia social e impedido o desenvolvimento do mercantilismo.
A dinastia Qing apenas consolidou essa situação. Realizou uma reforma agrária que substituiu grande parte dos senhores feudais hans por senhores feudais manchus, manteve o escravismo em muitas de suas regiões e abandonou os avanços técnicos herdados das dinastias Yuan e Ming, que poderiam ter levado a China a uma revolução industrial.
[/nextpage]
[nextpage title="p2" ]
A monarquia Qing montou sobre a riqueza acumulada entre os séculos 14 e 16, mas a utilizou unicamente para seu luxo "asiático" É difícil enxergar . um "mercado" em desenvolvimento na China, durante os séculos 17 e 18, quando suas "janelas abertas" para o resto do mundo se restringiam ao entreposto português de Macau e ao porto de Cantão. Nessas condições, a dinastia Manchu estava despreparada para enfrentar a nova onda de redivisão do mundo, no século 19, realizada pelas potências europeias que haviam emergido com a Revolução Industrial.
No caso da China e de outras regiões da Ásia Oriental, Marx confundiu a transição do sistema feudal para o capitalismo com a existência de um modo de produção asiático. Nada muito diferente de Adam Smith, que confundiu a riqueza acumulada pelo período mercantilista chinês com um equilíbrio entre oferta e mercado. Havia uma riqueza acumulada, mas não um mercado pujante. E o que se seguiu, a partir da Primeira Guerra do Ópio, em 1840, foi apenas a pilhagem daquela riqueza pelas potências europeias e pelo Japão.
Arrighi é induzido ao erro ao desprezar as lutas de classes que desembocaram no mercantilismo, na Europa, e na involução feudal, na China. E a não enxergar no mercantilismo o instrumento que levaria à acumulação primitiva do capital, antes da Revolução Industrial. Em todos os capítulos de sua obra, ignora o papel histórico do cercamento das terras e da expropriação dos meios de produção dos camponeses, na Inglaterra, que criaram uma imensa massa da população cuja única propriedade era sua força de trabalho.
Não cogita, em momento algum, que o capital só tenha surgido historicamente a partir da junção da riqueza monetária, acumulada no mercantilismo, com o trabalhador, expropriado de seus meios de produção, mas livre para vender sua força de trabalho. De cabo a rabo, confunde dinheiro com capital. Assim, não explica por que o capital despontou primeiro na Inglaterra, ainda nos séculos 17 e 18, inicialmente com um brutal uso intensivo de mão-de-obra e baixo uso de energia. Nem por que, só depois, com o aumento da concorrência e o uso das ciências e da técnica, deu um salto, superando as manufaturas e ingressando na era das fábricas mecanizadas e no uso intensivo de energia.
Sem entender isso, não dá valor às lutas de classes que se desenvolveram em outros países europeus, nos Estados Unidos e no Japão, que conduziram, entre os séculos 18 e 19, seja à independência americana e à revolução francesa, seja às reformas conservadoras na Alemanha, Rússia e Japão, todas tendo como resultado a libertação da força de trabalho, amarrada aos feudos, ou aos eitos, para a indústria.
Tudo pelo simples fato de que a força de trabalho, comprada pelo dinheiro como uma mercadoria qualquer, é o fator essencial que acrescenta um valor a mais às matérias-primas, ao transformá-las em novas mercadorias. É esse valor a mais, ou mais valia, a principal forma de acumulação e reprodução do capital. Sem força de trabalho livre da propriedade dos meios de produção, de qualquer tipo, o capital simplesmente não teria surgido, nem se desenvolvido, por mais que houvesse uma riqueza acumulada por processos históricos anteriores.
A China e muitas outras regiões e países da Ásia Oriental, África e América Latina, por uma série de razões históricas, não conseguiram libertar o estoque de trabalho preso aos latifúndios ou aos eitos escravocratas, durante o século 19, e até o século 20 já bem avançado. Os Estados Unidos, para dar seu salto capitalista, foram obrigados a realizar uma guerra civil destrutiva, na segunda metade do século 19, para transformar os escravos das regiões sulistas em seres humanos livres de qualquer tipo de propriedade.
O ressurgimento da Ásia
Para explicar o "renascimento" da Ásia Oriental, Arrighi salta do século 19 para o final do século 20. A competição financeira mundial teria esgotado, nos anos 1980, de repente, a oferta de recursos aos países do Terceiro e do Segundo Mundo, provocando uma forte retração da demanda global por seus produtos. Nessa situação, o "poder coletivo" do chamado "arquipélago asiático" teria se tornado a "oficina" do mundo e obrigado os centros capitalistas a se reestruturar.
O mais importante, ainda segundo Arrighi, é que a China estaria substituindo os Estados Unidos como principal motor da expansão comercial e econômica da Ásia Oriental. Portanto, o fracasso do projeto norte-americano e o sucesso do desenvolvimento econômico chinês teriam tornado mais provável a concretização da ideia de Smith, de uma sociedade mundial de mercado, baseada em uma "maior igualdade entre as civilizações".
Referindo-se ao marxismo, Arrighi admite que, entre os anos 1960 e 1970, ele teria tido relação com a vida cotidiana do Primeiro Mundo ao descer ao "chão de fábrica" em Detroit. Além disso, O Capital teria apresentado ideias importantes sobre a luta de classes. Porém, o problema da obra de Marx estaria em seus pressupostos sobre o desenvolvimento do capitalismo em escala mundial, que não teriam resistido ao exame empírico. As previsões do desenvolvimento capitalista generalizado do Manifesto Comunista não teriam se concretizado.
Fincando pé na distinção entre economia de mercado e economia capitalista propriamente dita, Arrighi sustenta que, se tal distinção for observada e se o princípio de acesso igual à terra continuar a ser reconhecido na China, esta poderia evoluir num sentido não capitalista. O que não significaria que o socialismo vai bem na China. Apenas que o capitalismo ainda não venceu. Em tais condições, para ele, as noções de socialismo e capitalismo podem não ser as mais úteis para entender a evolução da China e da Ásia Oriental.
Partindo desse pressuposto, Arrighi reconhece, em apenas um momento de seu texto, que o capitalismo atual se parece muito mais com o capitalismo retratado em O Capital do que com o capitalismo inglês que Marx tomou como referência. Porém, preocupado em demonstrar sua tese central sobre a concretização de uma sociedade mundial de mercado, desconsidera aquele fato e continua afirmando a existência de um descompasso entre a realidade dos países em que ocorreu a "difusão do marxismo" e a realidade teorizada em O Capital.
Desse modo, o autor de Adam Smith em Pequim tem dificuldade em reconhecer a comprovação da análise científica do capital, feita por Marx, isenta das interferências externas, da mesma forma que os biólogos estudam células, bactérias e vírus em laboratório. E, pior, confunde aquela análise com a história do capital, submetido às injunções econômicas, sociais, culturais e políticas de cada sociedade concreta e de cada época histórica.
Por isso, dá-se ao luxo de deixar de lado a história do capitalismo, nos primeiros três quartos do século 20. Não dá valor ao fato de que o capital dos países avançados, no processo previsto por Marx, se viu obrigado a transpor suas fronteiras nacionais e realizar uma segunda onda de expansão colonial. Também ignora que o capital, mal ou bem, espalhou pelo mundo elementos de seu modo de produção "ocidental" criando as condições para a posterior industrialização de regiões predominantemente agrárias e para a criação de diversos mercados locais ou regionais, predominantemente capitalistas.
Tampouco considera que, no século 20, o capital levou o mundo a duas guerras mundiais e teve de fazer manobras e concessões diante da luta de classes, em seus países e nos países que colonizara. Desdenha que, durante e após a Segunda Guerra Mundial, o capital acelerou a exportação de meios de produção para países da periferia, primeiro com vistas ao esforço bélico, depois em virtude dos capitais excedentes acumulados pelos Estados Unidos e da necessidade de conter a "expansão comunista".
[/nextpage][nextpage title="p3" ]
Arrighi tem consciência de que o Japão foi beneficiado pela Guerra da Coréia, na década de 1950, assim como os Tigres Asiáticos se desenvolveram com recursos e meios de produção transferidos pelos Estados Unidos, em seu afã de construir um cordão sanitário para isolar a China. Mas não acha importante que os Estados Unidos tenham imposto a reforma agrária tanto ao Japão quanto a Taiwan, Filipinas e Malásia. Nesses casos, não só para esvaziar a base social das guerrilhas, mas também para criar a força de trabalho indispensável à industrialização.
Arrighi nem sequer dá valor ao fato de que o capital mudou, a partir da segunda metade do século 20, seu padrão de expansão, passando a instalar fábricas e sistemas produtivos nos mais diferentes países e regiões do mundo, para aproveitar a força de trabalho, as matérias-primas e outras condições mais baratas, indispensáveis para manter sua taxa média de lucro num nível razoável para sua reprodução ampliada.
Entre os anos 1950 e 1970, os países europeus ocidentais recuperaram sua economia. O Brasil e os Tigres Asiáticos emergiram como novos países industrializados. No leste da Europa e na Ásia Oriental, conformou-se um vasto mercado, isolado do mercado mundial, mas concorrente dos países capitalistas nas regiões do Terceiro Mundo. Os países produtores de petróleo impuseram mudanças na distribuição das riquezas geradas em sua exploração. Nos diversos continentes, foi forte a presença de uma luta de classes ainda ascendente. E eram evidentes os sinais de que estava em curso uma nova revolução científica e tecnológica.
Desse modo, já antes dos anos 1980, estavam sendo introduzidas mudanças estruturais no capitalismo. Convergiram, primeiro, para a constituição de grandes corporações e para a expansão da economia capitalista na América do Sul e na Ásia Oriental. Nesses casos, economias intensivas em mão-de-obra e poupadoras de energia, mas com forte tendência a se transformarem em intensivas no uso de capitais e energia.
Nos anos 1980 e 1990, as grandes corporações aceleraram seu processo de centralização e alçaram o neoliberalismo como ideologia e política do capitalismo global. Na ânsia de reduzir a concorrência e elevar sua taxa média de lucro, lançaram-se na destruição de parques produtivos e na financeirização global, sob o argumento de que a revolução científica e tecnológica impunha uma ordem pós-industrial e pós-emprego, na qual os serviços, sobretudo financeiros, seriam capazes de governar um mundo sem fronteiras.
Nesse mesmo período, jogando perigosamente com a busca de maiores lucros pelo capital, desde 1978-1979 a China passou a introduzir mecanismos de mercado em sua economia e atrair investimentos para suas zonas econômicas especiais. Nestas, fazia três exigências simples aos capitais estrangeiros, mas fundamentais para o curso futuro: joint ventures com empresas chinesas, em geral estatais, transferência de altas ou novas tecnologias e produção para o mercado externo. Ou seja, proteção da indústria doméstica contra competidores estrangeiros mais fortes, absorção de tecnologias para dar musculatura à indústria doméstica e ingresso no mercado mundial na garupa das empresas estrangeiras.
Em outras palavras, é no contexto da reestruturação do capital em seus centros, e da adoção do Consenso de Washington como cartilha, que a China decide iniciar suas reformas, tendo como objetivo desenvolver suas forças produtivas. Fazendo a mesma distinção de Arrighi, entre economia de mercado e economia capitalista, a China decide adotar a economia de mercado como instrumento histórico de desenvolvimento econômico, mesmo sabendo que isso significaria também adotar mecanismos de mercado próprios do capitalismo. Não se pode esquecer que o capitalismo é a economia de mercado historicamente mais desenvolvida.
Portanto, a China começa sua transformação em principal fábrica, tanto do "arquipélago asiático" quanto do mundo, num contexto em que o capital, por um lado, com sua teoria neoliberal, destrói parques industriais numa série considerável de países, mas por outro lado, com suas necessidades objetivas de elevação da taxa média de lucro, segmenta suas cadeias produtivas por países onde encontra melhores condições de mão-de-obra, matérias-primas, energia e logística.
A China procurou aproveitar-se ao máximo dessas necessidades objetivas do capital, mas não adotou a cartilha neoliberal. Ao contrário dos demais países da Ásia Oriental, jamais abandonou suas empresas estatais, nem as privatizou, nem deixou de considerá-las como instrumentos estratégicos de orientação do mercado. Nesse sentido, não se pode confundir a "economia de mercado socialista chinesa" com a economia capitalista dos demais países do "arquipélago asiático".
Na prática, Arrighi realiza um "aplainamento" invertido da teoria de Friedman, sobre a expansão internacional do capital. Sem haver entendido a teoria de Marx a respeito do desenvolvimento e da expansão desigual do capitalismo pelo mundo, ele não vê que é Marx quem está em Beijing. E que suas opiniões sobre o ressurgimento da Ásia, com base numa "economia de mercado não capitalista" não resistem ao exame , empírico.
Wladimir Pomar é escritor e membro do Conselho de Redação de Teoria e Debate
[/nextpage]
