Estante
Formação Econômica do Brasil
Autor: Celso FurtadoAno: 2007
Editora: Companhia das Letras
Páginas: 356
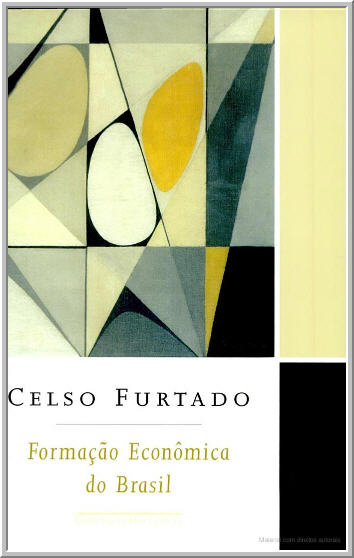 A presente re-edição da obra maior de Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, demonstra que esse clássico sobreviveu ao teste do tempo como uma referência essencial para o estudo da evolução da história econômica brasileira. Continua sendo obra de referência nos cursos de ensino de Economia de nível superior a despeito dos quase cinqüenta anos de existência.
A presente re-edição da obra maior de Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, demonstra que esse clássico sobreviveu ao teste do tempo como uma referência essencial para o estudo da evolução da história econômica brasileira. Continua sendo obra de referência nos cursos de ensino de Economia de nível superior a despeito dos quase cinqüenta anos de existência.
O primeiro ponto central que auxilia a entender essa combinação de importância e longevidade é o método histórico-estrutural utilizado por Furtado. Nas próprias palavras do autor sua obra buscaria “aproximar a História (visão global) da análise econômica, extrair destas perguntas precisas e obter respostas para as mesmas na História”. Nessa abordagem são elementos analíticos fundamentais as relações sociais, com seus agentes centrais e estrutura de classe que os condicionam e o estágio de avanço das forças produtivas e das relações sociais de produção. O autor tem também sempre presente uma perspectiva histórica comparativa, buscando entender a realidade brasileira à luz de sua inserção internacional, cujas mutações e peculiaridades são condicionantes fundamentais da dinâmica econômica interna.
Podemos dizer que o livro destaca três grandes movimentos de ocupação econômica do território nacional a partir do século 16, que poderíamos, tomando emprestado uma terminologia não furtadina, chamar dos complexos da cana de açúcar, ouro e café, reservando ainda espaço para atividades exportadoras de menor duração como o algodão no Maranhão e a borracha na Amazônia. A última parte do livro aponta para a transição que começa a ocorrer a partir da crise dos anos 1930. Inclui uma explicação extremamente didática dos efeitos positivos do gasto/déficit público na manutenção do nível de renda frente a uma severa crise externa, bem como seus impactos de mais longo prazo na mudança da estrutura econômica brasileira, descrita por Furtado no capítulo 32 como o “Deslocamento do Centro Dinâmico”. Essa expressão aponta para o momento histórico em que o Brasil começa a abandonar seu passado primário exportador. O processo de industrialização desloca para fatores ligados demanda interna os componentes centrais da dinâmica da acumulação.
No parágrafo anterior evitamos a utilização da palavra “ciclo” porque esta pode levar a uma leitura equivocada do que de fato foi a sucessão de atividades que desde o século 16 justificaram a ocupação econômica do Brasil. A palavra ciclo traz consigo a idéia de um arco vital de nascimento, apogeu e desaparecimento. Entretanto, as principais atividades econômicas citadas acima representaram ocupações econômico-sociais do território nacional permanentes, ainda que tenham alcançado momentos máximos em termos de vigor econômico.
Cabe ainda destacar a filiação cepalina da obra de Furtado ao examinar as limitações impostas ao crescimento econômico dentro de uma inserção primário-exportadora. Nos capítulos em que trata da tendência ao desequilíbrio externo, Furtado mostra como as variações na demanda de nossos produtos primários, potencializado pela liberdade na conta de capitais, pode trazer efeitos depressivos sobre o nível de atividade e negativos sobre os salários reais e as finanças públicas. Essas observações estão na raiz do diagnóstico crítico cepalino em relação a inserção primário-exportadora que caracterizou o Brasil no período liberal do século 19 e início do século 20.
O relançamento de uma edição revisada da Formação Econômica do Brasil deve ser saudado não só por professores de história econômica brasileira como também por todo brasileiro que quer entender seu país dentro de uma perspectiva histórico estrutural e livre das fantasias subjetivistas tão em voga a partir dos anos 1990.
Carlos Pinkusfeld Bastos é professor-adjunto da Universidade Federal Fluminense
