O âmbito de influência da mídia é incalculável e não há dúvida de que esteja a serviço dos donos do mundo, ajudando a controlar corações e mentes
Colunas | Cinemateca
 O cinema há tempos já vinha se preocupando com a crescente importância da mídia, em filmes seminais como Cidadão Kane (EUA, 1941, 1h53) e La Dolce Vita (Itália, 1960, 2h40). Orson Welles visou direto a jugular de um dos mais poderosos homens de seu tempo, o czar da mídia – só jornal e rádio, à época – William Randolph Hearst, a quem todos temiam. Campanhas contra quem incorria em seu dissabor acarretavam destruição de reputações. O filme disseca o poder político e a capacidade de manipulação que alguém como Hearst, que se tornou multimilionário, pode alcançar.
O cinema há tempos já vinha se preocupando com a crescente importância da mídia, em filmes seminais como Cidadão Kane (EUA, 1941, 1h53) e La Dolce Vita (Itália, 1960, 2h40). Orson Welles visou direto a jugular de um dos mais poderosos homens de seu tempo, o czar da mídia – só jornal e rádio, à época – William Randolph Hearst, a quem todos temiam. Campanhas contra quem incorria em seu dissabor acarretavam destruição de reputações. O filme disseca o poder político e a capacidade de manipulação que alguém como Hearst, que se tornou multimilionário, pode alcançar.
 Protagonizado por um jornalista de celebridades é La Dolce Vita, de Fellini, cujo objetivo não é a mídia propriamente dita, mas o hedonismo e a frivolidade que predominam no “café society” italiano de pós-guerra. Dizem que é desse filme que data a invenção dos papparazzi – repórteres parasitas, atrás dos famosos e dos escândalos. O substantivo derivaria do nome do fotógrafo que aparece no filme, Papparazzo.
Protagonizado por um jornalista de celebridades é La Dolce Vita, de Fellini, cujo objetivo não é a mídia propriamente dita, mas o hedonismo e a frivolidade que predominam no “café society” italiano de pós-guerra. Dizem que é desse filme que data a invenção dos papparazzi – repórteres parasitas, atrás dos famosos e dos escândalos. O substantivo derivaria do nome do fotógrafo que aparece no filme, Papparazzo.
Dessa grande fase do cinema italiano, mais um filme põe um jornalista no papel principal. É Profissão: Repórter (Itália/França/Espanha, 1975, 2h06), de Michelangelo Antonioni, menos conhecido que o de Fellini, no qual assistimos à troca de identidade entre jornalista e personagem. Já no famosíssimo Blow-up (Itália/Reino Unido, 1967, 1h50), Antonioni confere papel central não propriamente ao jornalista, mas ao fotógrafo.
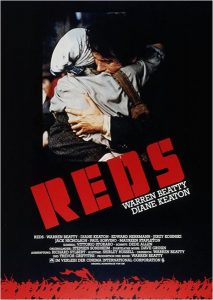 Warren Beatty tentou resgatar a tradição militante norte-americana ao filmar Reds (EUA, 1982, 3h40), que põe em cena o jornalista de esquerda John Reed, autor da extraordinária façanha de testemunhar e narrar a Revolução Russa de 1917, no livro clássico Dez Dias que Abalaram o Mundo. Relato em primeira mão de um simpatizante, até hoje é uma leitura de tirar o fôlego. John Reed é o único estrangeiro que mereceu a honra de ser sepultado ao lado dos heróis soviéticos nas muralhas do Kremlin.
Warren Beatty tentou resgatar a tradição militante norte-americana ao filmar Reds (EUA, 1982, 3h40), que põe em cena o jornalista de esquerda John Reed, autor da extraordinária façanha de testemunhar e narrar a Revolução Russa de 1917, no livro clássico Dez Dias que Abalaram o Mundo. Relato em primeira mão de um simpatizante, até hoje é uma leitura de tirar o fôlego. John Reed é o único estrangeiro que mereceu a honra de ser sepultado ao lado dos heróis soviéticos nas muralhas do Kremlin.
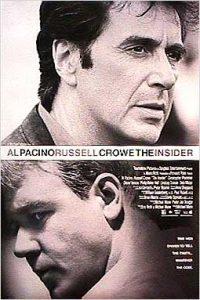 Um bom tempo depois, em O Informante (direção: Michael Mann, EUA, 2000, 2h38), Al Pacino é um jornalista da CBS e do prestigioso programa de TV 60 Minutos, que entra em contato com um cientista e pesquisador de uma das principais indústrias de cigarros. Este dispõe-se a falar e contar o que sabe das falcatruas e de como os industriais usam seus laboratórios científicos para pesquisas destinadas a impregnar os cigarros de aditivos que aumentem a capacidade de viciar. E mentem descaradamente ao país e ao vivo nos inquéritos do Congresso sobre a indústria do tabaco. Quando finalmente o jornalista obtém a entrevista, a CBS, alvo de ameaças, de chantagens e de processos, recua e proíbe sua exibição. Ele põe a entrevista no ar violando as ordens da emissora e pede demissão no mesmo ato. O filme se baseia em fatos reais: assim foi dado o tiro de partida na campanha contra o fumo, alastrando-se pelo mundo com as consequências que se sabe.
Um bom tempo depois, em O Informante (direção: Michael Mann, EUA, 2000, 2h38), Al Pacino é um jornalista da CBS e do prestigioso programa de TV 60 Minutos, que entra em contato com um cientista e pesquisador de uma das principais indústrias de cigarros. Este dispõe-se a falar e contar o que sabe das falcatruas e de como os industriais usam seus laboratórios científicos para pesquisas destinadas a impregnar os cigarros de aditivos que aumentem a capacidade de viciar. E mentem descaradamente ao país e ao vivo nos inquéritos do Congresso sobre a indústria do tabaco. Quando finalmente o jornalista obtém a entrevista, a CBS, alvo de ameaças, de chantagens e de processos, recua e proíbe sua exibição. Ele põe a entrevista no ar violando as ordens da emissora e pede demissão no mesmo ato. O filme se baseia em fatos reais: assim foi dado o tiro de partida na campanha contra o fumo, alastrando-se pelo mundo com as consequências que se sabe.
Também O Povo Contra Larry Flint (direção: Milos Forman, EUA, 1997, 2h10) ventila problemas semelhantes. O dono da revista de pornografia Hustler, uma rival menos refinada da Playboy, é alvo de um longo processo, do qual sai vitorioso, apelando para dispendiosos advogados e para a famosa Primeira Emenda, que garante liberdade de expressão e de imprensa.
 Devemos ao grande dissidente e mestre da desobediência civil Michael Moore o modelo de vários filmes que passamos em revista (Mera Coincidência, 15 Minutos, La Dictadura Perfecta e muitos outros): aqueles que desnudam os mecanismos políticos e midiáticos do “controle de danos”, como reza o eufemismo. Operação Canadá (Canadian Bacon, EUA, 1995, 1h32) é um filme de ficção, antes que o diretor tivesse atinado com o que viria a ser sua marca registrada, o documentário. Ataca a mania armamentista interna dos Estados Unidos, onde as pessoas acham que a livre aquisição, posse e porte de armas são direitos democráticos, qualquer limitação sendo um ultraje à Constituição. E nem a ocorrência de atos de terrorismo como o de Oklahoma City ou os assassinatos em massa cometidos por crianças, que vêm se avolumando, pode dissuadi-las. O filme põe em cena um presidente pacifista fadado à derrota na reeleição, em tempos de pós-Guerra Fria, a menos que – como sua equipe logo diagnostica – declare uma guerra. Para isso, o papel da mídia é decisivo.
Devemos ao grande dissidente e mestre da desobediência civil Michael Moore o modelo de vários filmes que passamos em revista (Mera Coincidência, 15 Minutos, La Dictadura Perfecta e muitos outros): aqueles que desnudam os mecanismos políticos e midiáticos do “controle de danos”, como reza o eufemismo. Operação Canadá (Canadian Bacon, EUA, 1995, 1h32) é um filme de ficção, antes que o diretor tivesse atinado com o que viria a ser sua marca registrada, o documentário. Ataca a mania armamentista interna dos Estados Unidos, onde as pessoas acham que a livre aquisição, posse e porte de armas são direitos democráticos, qualquer limitação sendo um ultraje à Constituição. E nem a ocorrência de atos de terrorismo como o de Oklahoma City ou os assassinatos em massa cometidos por crianças, que vêm se avolumando, pode dissuadi-las. O filme põe em cena um presidente pacifista fadado à derrota na reeleição, em tempos de pós-Guerra Fria, a menos que – como sua equipe logo diagnostica – declare uma guerra. Para isso, o papel da mídia é decisivo.
Segue-se a correria para escolher o inimigo. A Rússia, que aguentou meio século de Guerra Fria e se arruinou por isso, não topa, sendo afinal selecionado o Canadá. Os motivos, todos divertidíssimos, vão desde a limpeza do país, ausência de criminalidade e conflito racial até a tradição de paz, que o estigmatizam como socialista. Os serviços secretos então se encarregam de encenar atentados terroristas e atribuí-los aos relutantes canadenses, para arrastar a opinião pública norte-americana à guerra. O humor, convenhamos, é um tanto negro, e às vezes fica meio difícil divertir-se com o cinismo dos dirigentes e a sanha belicista dos cidadãos comuns. Esse filme, de escassa repercussão, depois inspiraria muitos outros que copiam seu esquema central de criar uma guerra imperialista na mídia para reforçar posições políticas internas.
 Entretanto, a raiz de tais males começa lá atrás, no macartismo dos anos 1950, que via comunistas e o Ouro de Moscou por trás de qualquer objeção: o início da Guerra Fria foi um período de perseguição aberta a intelectuais e artistas de esquerda nos Estados Unidos. Instaurou-se o terror, com paranoia generalizada, e um inquérito no Congresso que hostilizava os réus e obrigava as testemunhas à delação, para se safar. Muita gente boa e que admiramos saiu bem mal do processo. O livro de Lilian Hellman, Tempo dos Patifes (no original Scoundrel Time), rememora os principais lances da época. A autora figura entre os atingidos. Mas ainda pior foi o que houve com seu companheiro Dashiel Hammett, célebre autor de romances policiais como O Falcão Maltês, que se tornaria filme de grande sucesso, estrelado por Humphrey Bogart (direção: John Huston, EUA, 1942, 1h40). Recusando-se a delatar outros, foi condenado à prisão e cumpriu pena. A famigerada Lista Negra de Hollywood não é fantasia, e não poucos foram amordaçados e impedidos de exercer sua arte: cerca de doze se suicidaram. Até Bertolt Brecht, bem como outros refugiados do nazismo, foi obrigado a depor, e seu depoimento gravado existe até hoje, podendo ser ouvido. Recém-lançado, está um filme sobre o roteirista Dalton Trumbo, um dos principais acusados e grande artista (Trumbo, direção: Jay Roach, EUA, 2016, 2h40).
Entretanto, a raiz de tais males começa lá atrás, no macartismo dos anos 1950, que via comunistas e o Ouro de Moscou por trás de qualquer objeção: o início da Guerra Fria foi um período de perseguição aberta a intelectuais e artistas de esquerda nos Estados Unidos. Instaurou-se o terror, com paranoia generalizada, e um inquérito no Congresso que hostilizava os réus e obrigava as testemunhas à delação, para se safar. Muita gente boa e que admiramos saiu bem mal do processo. O livro de Lilian Hellman, Tempo dos Patifes (no original Scoundrel Time), rememora os principais lances da época. A autora figura entre os atingidos. Mas ainda pior foi o que houve com seu companheiro Dashiel Hammett, célebre autor de romances policiais como O Falcão Maltês, que se tornaria filme de grande sucesso, estrelado por Humphrey Bogart (direção: John Huston, EUA, 1942, 1h40). Recusando-se a delatar outros, foi condenado à prisão e cumpriu pena. A famigerada Lista Negra de Hollywood não é fantasia, e não poucos foram amordaçados e impedidos de exercer sua arte: cerca de doze se suicidaram. Até Bertolt Brecht, bem como outros refugiados do nazismo, foi obrigado a depor, e seu depoimento gravado existe até hoje, podendo ser ouvido. Recém-lançado, está um filme sobre o roteirista Dalton Trumbo, um dos principais acusados e grande artista (Trumbo, direção: Jay Roach, EUA, 2016, 2h40).
 Há um filme recente sobre o período, em que o protagonista, comentarista de mídia num programa de rádio de ampla audiência, decidiu resistir à caça às bruxas. O filme é Boa Noite e Boa Sorte (EUA, 2006, 1h33), que apresenta a curiosidade adicional de ter como diretor George Clooney: esse comentarista era seu pai.Mais tarde, em atitude semelhante, é bom lembrar a importância do comentarista de TV Walter Cronkite contribuindo para precipitar o fim da Guerra do Vietnã.
Há um filme recente sobre o período, em que o protagonista, comentarista de mídia num programa de rádio de ampla audiência, decidiu resistir à caça às bruxas. O filme é Boa Noite e Boa Sorte (EUA, 2006, 1h33), que apresenta a curiosidade adicional de ter como diretor George Clooney: esse comentarista era seu pai.Mais tarde, em atitude semelhante, é bom lembrar a importância do comentarista de TV Walter Cronkite contribuindo para precipitar o fim da Guerra do Vietnã.
Há menos tempo, verificou-se boa visão crítica em A Rainha (direção: Stephen Frears, França/Reino Unido/Itália, 2007, 1h39), que mostra como a mídia pautou a reação da população contra o silêncio de Elizabeth da Inglaterra face à morte da princesa Diana. A mídia tratou de inflamar os ânimos, atacou e comprometeu a rainha, chegando ao ponto de sugerir que a monarquia devia ser derrubada: até que ela resolvesse se manifestar aderindo ao luto nacional.
No que concerne à Inglaterra e sua “cultura do tabloide”, esses fatos não são de estranhar. Foi na Inglaterra que montou a aberração de seu império de mídia o australiano Rupert Murdoch. Sua aliança com Margaret Thatcher, de cujo governo conservador foi sustentáculo pelos onze anos de duração, garantiu a destruição sistemática dos sindicatos, à frente o dos mineiros. Tornou-se dono do maior império midiático do mundo, cujos tentáculos se estendem da Europa e Estados Unidos à Ásia e à América do Sul: estúdios de cinema, canais de televisão, jornais, agências de notícias, porções da internet etc. Uma pequena parte desse império foi confrontada recentemente, quando se descobriu na Inglaterra que seus repórteres grampeavam habitualmente os telefones de quem bem entendessem – membros da realeza, celebridades (inclusive menores sequestradas, pondo-lhes a vida em risco) e compravam policiais. Houve um processo por suborno e corrupção, ao qual o magnata compareceu, recusando-se a abrir a boca. Escapou da prisão sem que se soubesse muito bem que meios usou: mas o fato é que teve de fechar seu jornal predileto e de maior audiência, News of the World, e mudar-se para os Estados Unidos.
 Para que não se pense que a mídia seja inocente em outras causas, como o machismo, há Mulheres na Mídia (Miss Representation – é de lamentar que o trocadilho do título não seja traduzível –, direção: Jennifer Siebel Newson, EUA, 2011, 86 min.), excelente documentário de 2011 sobre o tratamento reacionário que a mídia dá à mulher. Feito por uma mulher, traz estudos sérios e depoimentos de figuras fora do comum como Jane Fonda, Condoleeza Rice, Hillary Clinton, Geena Davis. Esta última, após bem-sucedida carreira em Hollywood – homenageada este ano no Festival de Sundance, é embaixatriz da ONU para a mulher e a criança –, fundou o Institute on Gender Media, que combate os preconceitos antifemininos na mídia. Suas pesquisas mostram que os homens são protagonistas de 70% dos filmes e de 83% das séries “família” da TV, em que as mulheres raramente trabalham fora de casa: quem trabalha é o homem. Ademais, só 7% das mulheres são diretoras, sendo avassalador o espaço ocupado pelos homens. O IGM se preocupa com a influência que tudo isso pode ter nas crianças, que desde cedo começam a ser alimentadas por estereótipos.
Para que não se pense que a mídia seja inocente em outras causas, como o machismo, há Mulheres na Mídia (Miss Representation – é de lamentar que o trocadilho do título não seja traduzível –, direção: Jennifer Siebel Newson, EUA, 2011, 86 min.), excelente documentário de 2011 sobre o tratamento reacionário que a mídia dá à mulher. Feito por uma mulher, traz estudos sérios e depoimentos de figuras fora do comum como Jane Fonda, Condoleeza Rice, Hillary Clinton, Geena Davis. Esta última, após bem-sucedida carreira em Hollywood – homenageada este ano no Festival de Sundance, é embaixatriz da ONU para a mulher e a criança –, fundou o Institute on Gender Media, que combate os preconceitos antifemininos na mídia. Suas pesquisas mostram que os homens são protagonistas de 70% dos filmes e de 83% das séries “família” da TV, em que as mulheres raramente trabalham fora de casa: quem trabalha é o homem. Ademais, só 7% das mulheres são diretoras, sendo avassalador o espaço ocupado pelos homens. O IGM se preocupa com a influência que tudo isso pode ter nas crianças, que desde cedo começam a ser alimentadas por estereótipos.
E, como mostra Mulheres na Mídia, o processo começa bem cedo, com o estímulo à autovalorização da aparência nas meninas, e à valorização da aparência das meninas nos meninos, num ciclo infernal. Para explodi-lo, o documentário sugere promover nas meninas atributos de autonomia e capacidade de decisão desde cedo, encarando que o que está em disputa é mesmo o poder.
Como se vê, o âmbito de influência da mídia é incalculável e não há dúvida de que esteja a serviço dos donos do mundo, ajudando a controlar corações e mentes.
Walnice Nogueira Galvão é professora emérita da FFLCH da USP e integra o Conselho de Redação de Teoria e Debate.
