Estante
A síndrome da antena parabólica - Ética no jornalismo brasileiro
Autor: Bernardo KucinskiAno: 1998
Editora: Fundação Perseu Abramo
Páginas: 200
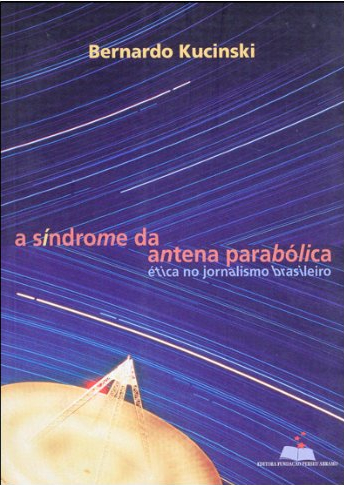 Dezembro de 1968: o coronel Jarbas Passarinho, ministro do Trabalho do general-presidente Costa e Silva, declara, perante seus colegas ministros, reunidos no Conselho de Segurança Nacional, que estava mandando às favas todos os seus escrúpulos de consciência para poder assinar o tristemente famoso AI-5, um dos mais lúgubres documentos da história republicana brasileira. Passarinho, um militar com postura de intelectual e arroubos de escritor, talvez não imaginasse que a gravação daquela sessão do CSN viria a ser divulgada, pelo mais planetário dos meios de comunicação, a Internet, justamente nos 30 anos do AI-5, ele ainda vivo. É uma nódoa definitiva na sua biografia.
Dezembro de 1968: o coronel Jarbas Passarinho, ministro do Trabalho do general-presidente Costa e Silva, declara, perante seus colegas ministros, reunidos no Conselho de Segurança Nacional, que estava mandando às favas todos os seus escrúpulos de consciência para poder assinar o tristemente famoso AI-5, um dos mais lúgubres documentos da história republicana brasileira. Passarinho, um militar com postura de intelectual e arroubos de escritor, talvez não imaginasse que a gravação daquela sessão do CSN viria a ser divulgada, pelo mais planetário dos meios de comunicação, a Internet, justamente nos 30 anos do AI-5, ele ainda vivo. É uma nódoa definitiva na sua biografia.
Setembro de 1994: o diplomata Rubens Ricúpero, ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco, admite para o jornalista Carlos Monforte, em conversa informal, um pouco antes de gravarem entrevista para o Jornal Nacional, da TV Globo: "Eu não tenho escrúpulos, o que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde". Infelizmente para os dois, a conversa em off foi registrada pelo microfone do estúdio e lançada pelo espaço, sendo captada através de antenas parabólicas por testemunhas involuntárias da inconfidência ministerial. O ministro teve que renunciar. Monforte jamais noticiou o mais importante da entrevista.
Novembro de 1998: o presidente Fernando Henrique Cardoso liga para o ministro das Comunicações, Mendonça de Barros. O ministro o tranqüiliza: o ambiente está propício às privatizações das estatais das telecomunicações. "A imprensa está muito favorável, com editoriais", observa do outro lado da linha. O presidente arremata: "Está demais, né? Estão exagerando até". Sem os dois desconfiarem, a conversa está sendo gravada clandestinamente por alguém interessado em agitar esse muito bem armado, para consumo externo, céu de brigadeiro.
Três momentos reveladores da história recente do país. Ao exercer o poder, a elite se descarta dos seus escrúpulos. Para evitar problemas, dissimula e manipula o quanto pode a opinião pública. A linguagem oficial nada tem a ver com a dos bastidores do poder, que, além de crua, chega a ser pornográfica. Quem consegue um lugar nesses escaninhos tem que pagar um preço: o do silêncio, ou da conivência. A omissão ou a parceria são retribuídas com as trinta moedas. Os principais candidatos a esse butim têm sido os jornalistas, seja os que mandam, seja os que obedecem. Como reconhece um dos principais beneficiários dessa parceria, os aderentes chegam a ser mais realistas do que o rei. Exageram na bajulação. Constrangem o próprio príncipe, por enquanto republicano.
A grande imprensa está nua, denuncia Bernardo Kucinski neste seu último livro, A síndrome da antena parabólica - Ética no jornalismo brasileiro. Ele está muito bem no papel da inconveniente criança que denunciou a nudez do rei. Os leitores desse conto de Andersen costumam destacar a coragem do menino diante da comitiva real. Mais do que o poder de iniciativa do denunciante, entretanto, deveria escandalizar a cumplicidade de toda a população com o golpe primário dos dois astutos golpistas, que fizeram o rei desfilar em pelo como se envergasse a mais deslumbrante vestimenta, e ainda ser elogiado pelos participantes da pantomima. O tom de libelo e indignação de alguns dos textos reunidos no livro se destacam ao se projetarem como contraste sobre o coro das unanimidades convenientes.
Parece que a imprensa nunca esteve tão bem como agora. A Folha de S.Paulo chegou a superar a inédita tiragem de um milhão de exemplares aos domingos, passando a fazer parte de um seleto clube mundial. A tiragem somada das três revistas semanais de informação (Veja, Istoé e Época) se aproxima de 2 milhões de exemplares. Mais cautela, porém, com as deduções entusiastas imediatas: a tiragem dominical da Folha, sem os penduricalhos de fitas de vídeo e enciclopédias em fascículo, já diminuiu um quarto em relação à sua melhor marca. Outras quedas podem se dar ainda. O apreço do cidadão pela imprensa no Brasil ainda está muito distante dos padrões anglo-saxônicos. São instituições poderosas, mas, como mostra Kucinski, sofrem de uma profunda crise de legitimidade.
A empresa jornalística tem um mando verticalizado como nenhuma outra organização da estrutura de poder no país. A voz do dono é a voz de Deus. Hoje, ainda mais do que antes, quando havia a censura do Estado, em boa medida aliada mas criando um campo concorrencial a partir de fora, sem o rígido controle interno que os plutocratas da imprensa sempre desejam. Por isso, houve mais democracia nas redações sob o regime militar do que agora, embora agora haja mais afluência.
Hoje, um número significativo de jornalistas tem sua sala privativa nas redações, com secretárias e boys, além de verba de representação, o que, antes do "milagre econômico" delfiniano, era quase impensável. Multiplicaram-se as empresas de consultoria, relações públicas e lobby de propriedade de jornalistas, muitas apenas empresas de papel. Os mais notáveis tornaram-se conferencistas bem pagos, num faturamento inversamente proporcional ao do número de ouvintes, mas diretamente relacionado à seletividade de cada um. Se a imprensa alternativa britânica era, por atitude, anticapitalista, chegando à ingenuidade de afastar-se do lucro por princípio, a nossa imprensa é, em substância, neoliberal, globalizada, integrada - ou qualquer que seja o neologismo empregado.
As seções econômicas da imprensa cresceram, adquiriram prestígio, foram melhor equipadas do que quaisquer outras. Mas os setoristas de economia não conseguiram antecipar para a opinião pública as principais medidas econômicas de impacto dos últimos anos. Na voragem de cobrir de flores a passagem do rei nu, chega a incomodar, com seu aulicismo, o pauteiro supremo das redações, entronizado no Palácio do Planalto.
Constitui paradoxo incômodo constatar que a imprensa alternativa, surgida como reação de resistência e combate ao golpe militar, se exauriu a partir da redemocratização. É de surpreender que isso tenha ocorrido em um quadro de liberdades como raras vezes se estabeleceu na história brasileira. Ao contrário do senso comum, a imprensa alternativa não se tornou inútil ou ociosa a partir daí, exatamente porque foi-se expandindo a amplitude da autocensura.
Da mesma maneira como antes se tornou imperioso para jornalistas independentes procurar uma via alternativa para divulgar informações bloqueadas pelo governo militar nas redações da grande imprensa, agora é categórica a necessidade de fazer chegar ao público as informações que só circulam em ambientes fechados, reproduzindo nesse nível a recordista concentração de renda. Mesmo quando participam dessas reuniões, muitos jornalistas guardam o que ouvem para si ou para os que pagam por seus serviços de assessoria ou palestras em circuito fechado. O jornalista, intelectual público antes da legislação que a Junta Militar (de 1969 e não 1968, como diz Bernardo) baixou para amordaçá-lo sob a sedução do corporativismo, foi privatizado - e com dispensa de licitação.
Se não há novidade no compromisso da elite da imprensa com o controle e a manipulação da informação, é inusitada a adesão dos profissionais do jornalismo a esse "consenso construído", a essa deliberada intenção de fraudar o público, que o autor se empenha em denunciar. Ele acha que a via alternativa está se transferindo para as home pages da Internet, à falta de outra alternativa. Mas a novidade dessas catacumbas seria apenas sua forma eletrônica. Continuariam na quadratura de um círculo de iniciados.
O caminho ainda é o das ruas, da exposição e oferta ao acesso de qualquer um, e não apenas dos donos de computadores, o espaço público cuja restauração Bernardo defende. Mas será essa uma luta perdida, um leite derramado em relação ao qual só nos resta chorar? Certamente não. Algumas exigências são fundamentais. Uma: que toda empresa jornalística, a partir de um certo tamanho do capital, seja obrigada a se transformar em sociedade anônima, abrindo a subscrição de parte de suas novas ações ao público. Outra: que todas as grandes empresas, a partir de uma certa tiragem, tenham ombudsman e conselho editorial com representação da sociedade. Mais uma: que o direito de resposta seja compulsório, tornando-se crime, com penalização imediata, a sua recusa (como já ocorre na França desde 1991).
Não surpreende que o panorama traçado por Kucinski seja sombrio e desanimador, contrastando com o retrato colorido pintado na grande imprensa por aqueles que retrucarão aos argumentos deste livro apontando um ou outro senão do autor, pequenos erros e um certo artificialismo nas sistematizações e teorizações. Num país onde a censura à imprensa foi criada antes do surgimento da própria imprensa e no qual os jornais circularam primeiro fora dos limites nacionais, um menino importuno como o que Andersen concebeu está mais arriscado a ser atropelado pela comitiva de áulicos do que fazer a verdade ser restabelecida.
Não é a toa que jornalistas como Bernardo Kucinski foram colocados para fora das grandes redações e permanecem até hoje outsiders. Nem todos com a bravura resistente de Bernardo, infelizmente.
Lúcio Flávio Pinto é jornalista, editor do Jornal Pessoal.
