Estante
Direito e Ideologia: um Estudo a Partir da Função Social da Propriedade Rural
Autor: Tarso de MeloAno: 2012
Editora: Outras Expressões e Dobra Editorial - Coleção Direitos e Lutas Sociais
Páginas: 216
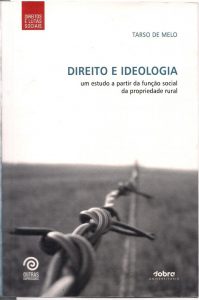 Como é possível que um direito, um princípio constitucional, não se efetive na realidade concreta? É dessa questão – aparentemente simplória, que pode ser e é frequentemente elaborada pelo cidadão comum não versado nas belezas e refinamentos do direitoTomando emprestadas expressões de Lassale, citadas na p. 50. – que Tarso de Melo se ocupa nas páginas do livro Direito e Ideologia: um Estudo a Partir da Função Social da Propriedade Rural. Para responder a ela, no entanto, o autor se vê obrigado a discutir a própria natureza do direito na sociedade capitalista, demonstrando a real complexidade da questão.
Como é possível que um direito, um princípio constitucional, não se efetive na realidade concreta? É dessa questão – aparentemente simplória, que pode ser e é frequentemente elaborada pelo cidadão comum não versado nas belezas e refinamentos do direitoTomando emprestadas expressões de Lassale, citadas na p. 50. – que Tarso de Melo se ocupa nas páginas do livro Direito e Ideologia: um Estudo a Partir da Função Social da Propriedade Rural. Para responder a ela, no entanto, o autor se vê obrigado a discutir a própria natureza do direito na sociedade capitalista, demonstrando a real complexidade da questão.
Conforme nomeado, o livro trata do problema a partir de um desses princípios, a função social da propriedade rural, prevista no artigo 184 da Constituição de 1988. O controle sobre seu cumprimento ainda é objeto de intensa disputa social, política e jurídica, protagonizada pelos movimentos sociais articulados em torno da luta pela reforma agrária.
Tal disputa está assentada num texto constitucional que passou a normatizar relações até então reservadas à esfera do indivíduo. Condicionar a propriedade privada ao cumprimento de uma função social evidencia a divergência entre interesses de ordem individual com relação às necessidades de natureza coletiva.
O autor inicia a apreciação da questão com a definição, de antemão, do caráter político da prática jurídica, contrapondo-se ao discurso corrente da neutralidade técnica – a partir do qual as decisões jurídicas são justificadas como emanadas de uma razão inquestionável e o direito é estudado como um todo em si mesmo. Apresenta os debates em torno da efetividade constitucional, dentro dos quais se pode destacar duas interpretações quanto à Constituição brasileira. Uma vertente a define como Constituição dirigente, cuja aplicação resultaria na alteração da realidade econômica e social. Outros estudiosos, no entanto, a definem como Constituição simbólica, configurando-se apenas como instrumento para a manutenção atual da ordem, com base na promessa de transformação em um futuro remoto. Melo, por sua vez, se propõe a analisar tal efetividade no contexto das disputas políticas reais e concretas que caracterizam a prática do direito, fundamentada em relações de poder. Amparado em Marx, busca compreender de que maneira as relações jurídicas estão enraizadas nas relações materiais de vida.
Neste estudo, a determinação normativa da função social da propriedade rural é o aspecto privilegiado para a análise dos mecanismos que permitem sua não efetivação. Há leituras da Constituição que privilegiam um artigo em detrimento de outro, comprometendo o sentido presente no conjunto do texto constitucional. Assim, conforme o artigo 184, pode ser desapropriada, para fins de reforma agrária, uma propriedade que não cumpra sua função social. No entanto, não pode ser desapropriada uma propriedade produtiva (artigo 185, II). A consideração desses artigos isoladamente resulta numa distorção recorrente:
À produtividade no sentido da função social (aproveitamento racional e adequado, respeito ao meio ambiente, à legislação trabalhista e ao bem-estar dos funcionários) opõe-se uma produtividade em sentido estritamente econômico, ou seja, especulativo (valorização da propriedade), de modo a dar sentido ao próprio artigo 185, independente da função social e, mais, mesmo contra a função social (p. 87).
Além disso, identifica-se que o detalhamento da função social da propriedade em legislação infraconstitucional permite que seu potencial de transformação da realidade seja esvaziado. Através desse mecanismo, sua aplicação ficaria reduzida à aferição de índices de produtividade, dentro dos quais os latifúndios poderiam estar perfeitamente enquadrados, não havendo, portanto, desapropriação para fins de reforma agrária.
A não efetivação desse princípio constitucional, no entanto, enfrenta a pressão exercida por organizações sociais como o Movimento Sem Terra, a despeito de sua posição desigual no contexto da disputa pela terra. Corroborando tal afirmação o autor aponta, a partir de estudos sobre a distribuição espacial dos assentamentos rurais, “que as mudanças na ordem latifundiária não seguem exatamente da Constituição para a terra, mas, antes, em sentido contrário” (p 90). Diante disso, destaca-se a pergunta que dá nome ao primeiro subitem do terceiro capítulo do livro “MST: um movimento para efetivar a Constituição?”. A questão, no entanto, não é de fácil solução.
As decisões judiciais com respeito às ocupações empreendidas pelo MST, bem como por outros movimentos sociais não analisados na obra, reduzem muitas vezes os conflitos sociais a contendas individuais. Apesar do deslocamento do texto constitucional para o direito público, verificado na Constituição de 1988, tais conflitos são, muitas vezes, tratados como relativos ao direito privado.
Nesse sentido, Melo evidencia que o individualismo constitui a própria natureza do direito na sociedade capitalista. Através deste, propriedade e sujeito se constituem como abstrações, transformando o individualismo em forma geral de organização social. Iguais perante a lei, os sujeitos de direito, indivíduos abstratos, não são identificados como sujeitos sociais, que ocupam posições desiguais no contexto das relações de poder que caracterizam a sociedade. A propriedade, por sua vez, realiza a relação entre homens e bens de forma abstrata, na qual o valor de troca assume primazia sobre o valor de uso do bem, sendo, portanto, noção central para o funcionamento do sistema capitalista. Assim, por meio do direito, os conflitos sociais advindos do modo de produção e apropriação de riqueza vigente são individualizados, e portanto despolitizados. Disso decorre a defesa, pelo autor, da necessidade da crítica ao direito como técnica, afirmando, ao contrário, como vinculada a interesses e opções políticas.
Nesse sentido, o movimento social contribuiria para evidenciar os sujeitos concretos ocultos sob o abstrato “sujeito de direitos”. O MST se apresentaria como sujeito coletivo, que descortina as relações de classe existentes nos conflitos fundiários. É por meio dos movimentos sociais que, se não se efetiva a Constituição, ao menos é possível fazer “a realidade cruzar as portas dos fóruns – de fora pra dentro” (p 155).
Impressiona a densidade da análise de Tarso de Melo sobre a questão, ainda mais considerando que esta advém de sua pesquisa de mestrado. A leitura marxista das relações jurídicas implicadas na questão da terra lança luz sobre os limites do direito como instrumento para a transformação social. O estudo, no entanto, não se reduz a identificá-lo como mantenedor da ordem vigente. O direito é considerado, potencialmente, como aliado e adversário na luta por mudanças sociais profundas, a depender da forma como é apropriado politicamente. Tal contradição se oculta sob a defesa ideológica da prática do direito como isenta e descolada da realidade social que a define. A partir dessa análise, Melo busca contribuir com o debate sobre a ampliação das possibilidades de uso do direito como instrumento para a ação política e engajada.
Luana Soncini é historiadora, mestre pela Universidade de São Paulo, e integra a equipe do Centro Sérgio Buarque de Holanda da Fundação Perseu Abramo. E-mail: [email protected]
