Estante
Juventude Metalúrgica e Sindicato: ABC Paulista, 1999-2001
Autor: Agnaldo dos SantosAno: 2010
Editora: AgBook
Páginas: 160
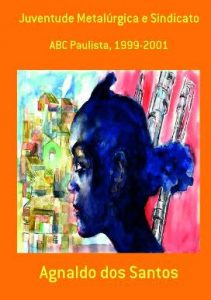 O livro Juventude Metalúrgica e Sindicato: ABC Paulista, 1999-2001, de Agnaldo dos Santos, é um desafio à imaginação sociológica porque toca em dois elementos míticos da tradição da esquerda: o papel político dirigente da classe trabalhadora e a propensão revolucionária da juventude.
O livro Juventude Metalúrgica e Sindicato: ABC Paulista, 1999-2001, de Agnaldo dos Santos, é um desafio à imaginação sociológica porque toca em dois elementos míticos da tradição da esquerda: o papel político dirigente da classe trabalhadora e a propensão revolucionária da juventude.
O ponto de partida do autor pode ser resumido em três perguntas. Comparativamente aos anos 70 e 80, a conjuntura econômica atual estimula a militância sindicalista? “A esperança de mobilidade ascensional afeta a identidade operária”? E, por fim, estaríamos diante de uma juventude operária mais preocupada com um futuro profissional longe da linha de produção?
Infelizmente, para os socialistas, o autor diz “sim” às três indagações. Como o leitor notará, embora o texto dialogue com a experiência de uma categoria específica em um dado período histórico, muitas das conclusões da obra remetem a tendências gerais.
Em primeiro lugar porque sua hipótese inicial de que a estrutura sindical brasileira excessivamente verticalizada poderia ser uma explicação para um difícil relacionamento do sindicato com os jovens trabalhadores foi subsumida a outra, mais ampla e determinante: a de que a própria identidade operária estaria em crise. Em segundo, porque a categoria escolhida é, no Brasil, a vanguarda política do chamado novo sindicalismo e do Partido dos Trabalhadores em seu nascedouro, bem como elemento atuante num setor de ponta da indústria brasileira dos anos 70.
De fato, a conjuntura atual é diversa. A taxa de sindicalização caiu nos anos 90, e o número de greves também, o mercado de trabalho mais rígido foi substituído por outro mais segmentado e as empresas buscam habilidades específicas de trabalhadores mais educados que prescindem de uma relação de proximidade com o movimento sindical”, como nos informa o autor.
Há quem assevere que a fragmentação do mundo do trabalho sempre foi muito grande, e portanto o problema do sindicalismo seria mais político (subjetivo). Ou seja, as direções sindicais teriam optado por uma postura mais colaborativa (por exemplo, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC preferiu, em meados dos anos 90, a negociação através de câmaras setoriais, em vez de um enfrentamento por meio de greves). Mas Agnaldo dos Santos questiona se o “proletariado possuiria de fato propensão a embates de forte coloração ideológica classista”.
Aqui o autor recorre à conhecida tese de Jacob Gorender em seu livro Marxismo Sem Utopia, em que se propugna o caráter ontologicamente reformista do proletariado. Afinal, se Lenin afirmara que, deixado por si mesmo, o operário chegaria, no máximo, a uma consciência sindicalista, e não à consciência de classe para si, é lícito imaginar que ele seja, de fato, reformista. A novidade, para Gorender, é que a Revolução da Informática elimina mais empregos tradicionais do que os novos que vêm sendo criados. A expansão do assalariamento ocorre em postos precários de trabalho. Agnaldo dos Santos cita a hipótese de uma sociedade em que o trabalho estaria perdendo sua centralidade sociológica.
Sociológica, sim, mas não ontológica. O autor assevera que a solução in extremis está sempre na historicização dos problemas. Se o trabalho industrial se reduziu nos países centrais do capitalismo, ele se expande em países chamados emergentes; se alguns acadêmicos sonham com sociedades pós-modernas, o desemprego e o aumento da jornada de trabalho desafiam os sindicatos; se o número de trabalhadores decresce em muitas indústrias, é porque se aumenta a mais-valia relativa, incrementa-se a produtividade dos que continuam a operar as máquinas e o sistema repõe continuamente a oposição entre trabalho (produtivo) e capital (cada vez mais potente).
Trabalhadores como classe e com certa consciência de sua situação continuam existindo em toda parte, e o autor não os define como “aqueles que vivem do trabalho”, já que faltaria rigor conceitual à expressão (afinal, todas as classes vivem do trabalho, só que algumas se alimentam do trabalho alheio...). Mesmo com a diminuição do trabalho vivo em indústrias de ponta e em novos ramos produtivos, a classe trabalhadora, produtiva ou não, continua sendo conditio sine qua non para a acumulação de capital.
Esse mundo de capitais fictícios autonomizados de suas plantas fabris, viajando em tempo real pelos mercados financeiros em busca de máxima valorização, não é o melhor para os trabalhadores. Sua tecnologia de reivindicação e protesto não acompanhou a sofisticação da opressão capitalista. O livro de Agnaldo dos Santos mostra como, outrora, “havia íntima relação entre resistência moral e resistência política”, ou seja, na velha fábrica fordista (de resto ainda existente e numerosa, diga-se en passant), a sociabilidade operária garantia formas de luta e de lazer diferentes daquelas do mundo do just in time, dos trabalhadores que incorporam subjetivamente os valores da empresa, são mais escolarizados, usam maneiras de tratamento delicadas, têm desejos de consumo conspícuo e não têm identificação com o orgulho da profissão.
Os operários do ABC paulista nos anos 70 guardavam a camaradagem da origem regional comum, da moradia no mesmo bairro, da frequência aos mesmos bares e do orgulho da palavra empenhada e do contrato eticamente justo. Talvez por isso o livro pareça tomado por um sentimento pessimista. A classe operária que o autor estuda em seu livro é muito distinta daquela descrita no Manifesto Comunista, que nada tinha a perder, salvo seus grilhões. Os jovens metalúrgicos do ABC vivem sob o signo da transitoriedade. Em trânsito de uma profissão a outra, sem cultivar identidade alguma.
Mas o autor não demoniza a juventude, pois não a toma em si e por si mesma. Ela é um elo na trama da existência social. Biologicamente, não é um fim, e sim uma etapa. E o mesmo se pode dizer, no plano sociológico, se quisermos superar a aparência fenomênica e apanhar seu âmago. Ela não é nem melhor nem pior que outros estratos sociais. E, como o conjunto da sociedade, também não é homogênea e se divide em classes (embora os jovens de diferentes classes também tenham traços comuns que os diferenciam dos mais velhos). Talvez tenham maior capacidade de ser a “antena da época”, mas mesmo isso é duvidoso. O mais correto é concordar com outra afirmação do autor: “...se vivemos numa sociedade que defende o hedonismo e o individualismo, por que a maioria das diversas juventudes seria muito diferente disso?”
Lincoln Secco é professor livre-docente de História Contemporânea na Universidade de São Paulo e membro do Conselho de Redação de Teoria e Debate
