Estante
O Futuro da Liberdade: a Democracia no Mundo Globalizado
Autor: Jean-Marie GuéhennoAno: 2003
Editora: Bertrand Brasil
Páginas: 192
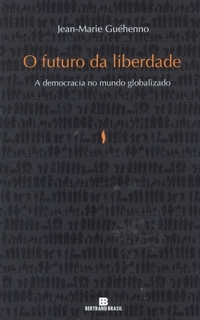 Na década de 1990, o pensamento inquieto do advogado e filósofo francês Jean-Marie Guéhenno surpreendeu o mundo com O Fim da Democracia, um livro interpretado quase como um manifesto do colapso do Estado-Nação, tal qual o concebemos desde os bancos da escola secundária. Os raciocínios da tese de Guéhenno abafaram o alarido dos fogos daqueles que comemoravam a queda do Muro de Berlim e a derrocada das ditaduras comunistas, no Leste europeu, e de direita, na América Latina. Quando alguns já espalmavam as mãos, com a convicção de que o serviço estava concluído, Guéhenno obrigou a todos a se debruçar novamente sobre a formação das novas democracias e provocou imensa vertigem naqueles mais apressados. Professor do Institut d´Études Politiques de Paris e diretor do Centro de Análise e Prognósticos do Ministério de Assuntos Externos da França, aos 54 anos Guéhenno é um dos intelectuais mais atuais e turbulentos desta era de revolução internética e revisão de conceitos ideológicos.
Na década de 1990, o pensamento inquieto do advogado e filósofo francês Jean-Marie Guéhenno surpreendeu o mundo com O Fim da Democracia, um livro interpretado quase como um manifesto do colapso do Estado-Nação, tal qual o concebemos desde os bancos da escola secundária. Os raciocínios da tese de Guéhenno abafaram o alarido dos fogos daqueles que comemoravam a queda do Muro de Berlim e a derrocada das ditaduras comunistas, no Leste europeu, e de direita, na América Latina. Quando alguns já espalmavam as mãos, com a convicção de que o serviço estava concluído, Guéhenno obrigou a todos a se debruçar novamente sobre a formação das novas democracias e provocou imensa vertigem naqueles mais apressados. Professor do Institut d´Études Politiques de Paris e diretor do Centro de Análise e Prognósticos do Ministério de Assuntos Externos da França, aos 54 anos Guéhenno é um dos intelectuais mais atuais e turbulentos desta era de revolução internética e revisão de conceitos ideológicos.
Em seu título anterior, o autor causou indignação ao recusar o convite para a festa do que ele define como um vaidoso triunfalismo dos vitoriosos. Se tudo era feito em nome da democracia, como as guerras de hoje em dia contra um Iraque ameaçador porque descontrolado, Guéhenno, ao assinar o atestado de óbito da democracia, derrubou os argumentos mais sedutores e, ao mesmo tempo, reacendeu a chama da cobrança, com juros e correção (sim, agora, o Leste podia), para aqueles que prometiam autonomia e independência. “Ousar evocar o fim da democracia foi interpretado por muita gente como sinal de fraqueza de espírito e derrotismo envergonhado ou, pior, como manifestação de nostalgia inconfessável pela Ordem, até mesmo pelo despotismo esclarecido. Não tenho essa fraqueza nem essa nostalgia”, escreve o intelectual. Guéhenno esclarece que sua motivação foi aquele excesso de certeza, pós-comunismo, de que a democracia teria triunfado! Aquele brado retumbante lhe soou suspeito desde o primeiro momento.
Náufrago naquela ilha de pessimismo, escreveu O Fim da Democracia partindo de uma reflexão simples: “De onde estava vindo aquela certeza de que nos tornáramos todos democratas, assim como, dali em diante, todos capitalistas?” Suas reflexões deram pano pra manga. “Eu via na democracia um valor, os triunfalistas de 89 viam só uma técnica”, explica. “Fazer da democracia um valor é lembrar que a afirmação do bem comum e a constituição de um espaço público estão inscritos no destino humano, e que nenhum indivíduo se realiza plenamente se não tiver a possibilidade – um dever, para alguns – de participar da vida pública de seu país”, continua. Ao decretar o fim desse valor, Guéhenno estava, na prática, defendendo-o e passou a ser um grande guardião com suas interpelações consistentes e desconcertantes ao mundo.
Em seu novo trabalho, segue a sina de vigilante e caminha com sua lanterna no pantanoso terreno da globalização. O Futuro da Liberdade – A Democracia no Mundo Globalizado revela as mazelas das nações que se declaram livres e descortina os modernos e simulados instrumentos das novas ditaduras – ou democracias virtuais. Nada escapa à sua luz atenta e reveladora das artimanhas criadas supostamente para fazer valer a democracia representativa, que reprime, na prática, os direitos mais fundamentais de um almejado sistema igualitário. Tal como em O Fim da Democracia, o filósofo-profeta esgarça tanto a defesa do “pensamento único”, do consenso da globalização, a ponto de só fortalecer a demanda por uma liberdade prometida e renegada pelas regras hegemônicas.
Em outras palavras, prega o famoso “choque de capitalismo” bradado pelo então senador Mário Covas na tribuna do Senado Federal, em 1989. “A denúncia pouco convincente do pensamento único não é suficiente para criar um pensamento pluralista. (...) As leis do mercado são criticadas porque a própria noção de mercado é criticável ou porque o funcionamento do mercado tem um vício intrínseco? Nossas sociedades estão sofrendo de excesso de mercado ou insuficiência de mercado?” Guéhenno parte desta questão – e de outras igualmente inquietantes – para discutir o papel do Estado e identificar o que ameaça o cidadão da nova ordem mundial. Quando noticiamos um caso como o acordo da Enron com a AES para a privatização da Eletropaulo, percebe-se o quanto é cabível o argumento e o quanto o mercado ainda padece de tudo o que ele mesmo prega.
Seu primeiro alvo é a redefinição do papel das ideologias, dos partidos e dos políticos. Numa tradução livre ou licença poética, algo que encontra eco consistente no que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tem cobrado de seu PSDB: “Se, de agora em diante, a única ambição da social-democracia se reduz a gerir o capitalismo melhor que os capitalistas, não se vê qual espaço político lhe restará”. No fim desta frase, e de quase cinco meses de governo Lula, descobrimos que o puxão de orelha vale também para os moderados do PT. O que Guéhenno conclui é que o triunfo do neoliberalismo impôs a derrota da divisão ideológica simplista e novos questionamentos que permitiu aos políticos, por enquanto, um encontro duradouro com a incompetência. “Discutem-se detalhes, não modelos de sociedade.”
Guéhenno, foi dito acima, inclui em seu texto todos os assuntos da agenda moderna e é obrigatório para nossa realidade quando toca em algumas – ou quase todas – feridas do Estado brasileiro. Do lixo nuclear à solidariedade entre as gerações, passando pelo valor do tempo, seguindo a lógica de Domenico di Masi, até o capital impaciente, de Richard Sennet, o autor abraça as incógnitas que, desde o fim da década de 80, deixaram a esquerda perplexa, a direita atônita e ambas sem respostas para um cidadão que assiste ao mundo transformá-lo cada vez mais em consumidor. Guéhenno, como quem desflora o malmequer, vai jogando ao chão cada uma das controvérsias de defesa da nova sociedade e empurrando o leitor para a reflexão de quão inócuos são os argumentos em favor da liberdade democrática e da soberania.
Um dos temas mais atuais pincelados no livro é o da concorrência, a mãe das privatizações, como um valor universal. A concorrência, definida como a forma contemporânea de fé no progresso, a convicção de que a história tem um sentido, tornou-se o horizonte – e a razão de ser – das democracias. “Que vença o melhor, costuma-se dizer. O raciocínio circular de nossa época consiste em afirmar, de um único fôlego, que, se o melhor ganha, é porque ele é o melhor e que a prova de que ele é de fato o melhor é que ele ganhou.” Guéhenno condena a lógica perversa de que para haver democracia basta dar oportunidades iguais para todos, haja vista que a natureza faz sua seleção e, se a sociedade é desigual, a concorrência para a realização pessoal também o será. E o autor lança mão da metáfora esportiva para fortalecer sua tese, já que até nas quadras, onde deveria haver uma seleção natural, onde o mais forte deveria vencer, é admitido o famoso doping. Mais ou menos o mesmo subterfúgio usado pela Enron e pela AES. Mesmo assim as sociedades, com a melhor das boas intenções, mergulharam na teoria da concorrência como salvaguarda para a democracia. Mas as boas intenções, já se disse, lotaram o inferno.
Guéhenno, ao contrário de se opor a tudo isso, pede pelo fim da concorrência para inglês ver. Se o capitalismo venceu, que venha o capitalismo e sirva-se de suas melhores características para defender a liberdade do cidadão, e jamais para aprisioná-lo em um mercado onde os produtos mais baratos estão numa prateleira fora do alcance da maioria. Isso, segundo o autor, ocorre neste momento, quando o Estado dito moderno abriu mão de suas prerrogativas de condutor e gerador das principais políticas públicas para o cidadão para se transformar, depois das privatizações, em um suposto fiscalizador de serviços prestados ao consumidor.
Fala-se aqui das tão propagadas agências reguladoras. Segundo Guéhenno, elas chegam após um processo de deterioração do Estado. Pregam-lhe na testa a pecha de incompetente e fazem acreditar que o Estado deve fazer menos e melhor. Ao retirar-se desses serviços mais essenciais ao cidadão e à organização democrática, o Estado ameaça a própria soberania, na opinião do autor. Primeiro porque os cidadãos se recusam a pagar tantos impostos para serviços que o poder público não presta mais. E para manter a qualidade de outros serviços, como a segurança pública, os cofres do governo serão sempre insuficientes, já que, agora, este recebe apenas uma parcela do setor privado, o novo dono dos serviços. O perigo, segundo Guéhenno, é deixar a sociedade enxergar tudo – segurança, defesa e até a Justiça – como serviço.
“O Estado não é mais o mediador comprometido entre o interesse geral e as administrações particulares. Torna-se uma soma de agências especializadas gerindo mais os interesses públicos do que um hipotético interesse geral. (...) A política se privatiza, e as atividades privadas adquirem um significado político. Em meio à desintermediação política, o Estado não é mais o ponto central em torno do qual se organiza uma comunidade política. Ainda é um ator importante, mas deve, a cada dia, humildemente, justificar sua utilidade junto aos outros atores que lhe fazem concorrência.” Ou seja, o Estado entrega às chamadas agências reguladoras o domínio sobre a liberdade do cidadão e, conseqüentemente, a participação deste na própria máquina democrática.
Na segunda parte do livro, Guéhenno desenha um terrível quadro dessa liberdade que nos escapa pelos dedos ao definir o papel da empresa na democracia, o confronto entre interesses públicos e interesse geral, a exclusão digital e o progresso contábil das empresas como forma de fiscalização do cidadão e invasão de privacidade. E chega ao grande confronto que, em sua opinião, está se dando e se dará ainda mais intensamente daqui para a frente no mundo: os cidadãos da globalização terão de escolher entre dois modelos de democracia, as comunidades de escolha ou as de memória, sendo as primeiras uma continuidade do modelo americano e as outras uma herança européia. As primeiras com paradigmas determinados por Tocqueville e as outras por Rousseau. O embate está apenas no começo, mas, se os cidadãos do mundo ignorarem sua existência, só teremos de esperar, infelizmente, um resultado: vença o melhor.
Jorge Félix é jornalista
