Estante
O Trato dos Viventes
Autor: Luiz Felipe de AlencastroAno: 2000
Editora: Companhia das Letras
Páginas: 526
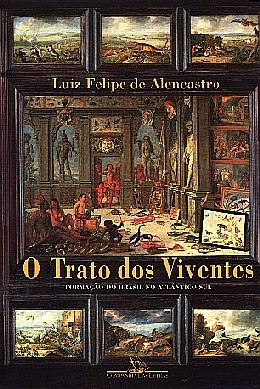 De tempos em tempos, a historiografia brasileira produz sínteses, estudos destinados a ordenar o emaranhado de fatos e comportamentos do passado e, sobretudo, lançar luzes sob os conturbados homens da contemporaneidade. A primeira grande síntese surgiu com Caio Prado Junior. Nela a nossa história possuía um sentido, uma estrutura mestra capaz de dar-lhe inteligibilidade. O "sentido mercantil" impulsionava as lavouras de cana-de-açúcar, a sociedade escravista e a colonização do Brasil. O escravismo e as brutais diferenças sociais forjaram-se a partir da perversa lógica mercantil. Com Fernando Novais, a acumulação primitiva de capital e a emergência do capitalismo incentivaram o pacto colonial e a economia agroexportadora. Açúcar, ouro e escravos rendiam lucros fabulosos que logo escapavam das fronteiras coloniais. De Portugal, esse capital se estabilizou na Inglaterra, contribuindo com a Revolução Industrial. Esta vertente historiográfica ainda destacou a inexistência de um mercado interno e a incapacidade de gerar acumulações endógenas. A América portuguesa estava, portanto, atrelada aos destinos metropolitanos e mundiais, ou melhor, obedecia a ritmos econômicos externos. O trato dos viventes: Formação do Brasil no Atlântico Sul de Luiz Felipe Alencastro vincula-se a essa vertente historiográfica. A perspectiva externalista torna-se evidente desde o subtítulo.
De tempos em tempos, a historiografia brasileira produz sínteses, estudos destinados a ordenar o emaranhado de fatos e comportamentos do passado e, sobretudo, lançar luzes sob os conturbados homens da contemporaneidade. A primeira grande síntese surgiu com Caio Prado Junior. Nela a nossa história possuía um sentido, uma estrutura mestra capaz de dar-lhe inteligibilidade. O "sentido mercantil" impulsionava as lavouras de cana-de-açúcar, a sociedade escravista e a colonização do Brasil. O escravismo e as brutais diferenças sociais forjaram-se a partir da perversa lógica mercantil. Com Fernando Novais, a acumulação primitiva de capital e a emergência do capitalismo incentivaram o pacto colonial e a economia agroexportadora. Açúcar, ouro e escravos rendiam lucros fabulosos que logo escapavam das fronteiras coloniais. De Portugal, esse capital se estabilizou na Inglaterra, contribuindo com a Revolução Industrial. Esta vertente historiográfica ainda destacou a inexistência de um mercado interno e a incapacidade de gerar acumulações endógenas. A América portuguesa estava, portanto, atrelada aos destinos metropolitanos e mundiais, ou melhor, obedecia a ritmos econômicos externos. O trato dos viventes: Formação do Brasil no Atlântico Sul de Luiz Felipe Alencastro vincula-se a essa vertente historiográfica. A perspectiva externalista torna-se evidente desde o subtítulo.
"Nossa história", como destaca Alencastro, "não se confunde com a continuidade do nosso território colonial. Sempre se pensou o Brasil fora do Brasil, mas de maneira incompleta..." (p. 9). O Brasil não era apenas um prolongamento da Europa, se construiu também a partir de um estreito vínculo com a África.
A colonização portuguesa não se sustentava sem o braço escravo. Para viabilizá-la, recorreu-se aos escravos africanos, unindo os enclaves da América portuguesa às feitorias de Angola. No final dos quinhentos, surgiu então um espaço sem limites territoriais contínuos, um arquipélago lusófono, forjado pelo tráfico negreiro. A Coroa portuguesa, paulatinamente, inibiu o emprego de mão-de-obra indígena e estimulou o tráfico e a escravidão de africanos. Como resultado, as bordas atlânticas se especializaram: a agricultura se desenvolveu em Pernambuco, Bahia e, mais tarde, no Rio de Janeiro; enquanto Angola fornecia braços para as lavouras brasílicas, aniquilando aí as atividades agrícolas. A colonização portuguesa produziu, então, economias complementares e não concorrenciais.
A metrópole controlava o tráfico negreiro e a estrutura econômica de ambos lados do Atlântico, consolidando a dependência dos colonos, mesmo os mais abastados, pois consumiam boa parte de seus lucros na compra de escravos. Esse capital retornava à metrópole, sobretudo com os mercadores de escravos, dirigindo-se, em parte, para os cofres régios. Assim, os colonos se vinculavam ao mercado metropolitano, produzindo açúcar, fumo e algodão, enquanto os colonos em Angola capturavam escravos para labutar em solos americanos.
A escravidão africana viabilizava, em parte, a evangelização dos ameríndios, pois pretensamente amenizava os embates entre jesuítas e colonos. Para tanto, em diversos momentos a metrópole editou leis destinadas a conter a escravidão indígena. Com a importação de braços, os índios se tornariam dispensáveis à colonização e poderiam abraçar a fé cristã, sob a tutela dos inacianos. Defensores da liberdade, os jesuítas lutavam para tornar efetiva essas prerrogativas, mesmo com forte resistência por parte dos colonos. Os últimos pretendiam escapar dos altos preços dos escravos africanos, recorrendo aos descimentos e escravização dos ameríndios. Para Luiz Felipe Alencastro, a escravidão indígena tornava os colonos independentes do controle metropolitano e anestesiava as trocas entre as bandas atlânticas.
Apesar de inaugurar um rico veio historiográfico quando analisou os vínculos entre tráfico negreiro e escravidão indígena, o historiador pecou ao desconsiderar que, nas áreas açucareiras, os ameríndios estavam praticamente extintos desde o início do século XVII. Assim, as disputas entre jesuítas e colonos não se arrefeceram devido à introdução de escravos africanos. O extermínio dos tupis esvaziou as querelas em torno do controle dos aldeamentos. A partir dos seiscentos, os jesuítas passaram a atuar na Amazônia, onde a colonização baseava-se no trabalho indígena. Dependentes do contingente nativo, os colonos investiam contra os missionários, pois as lavouras eram incapazes de sustentar a compra de escravos provenientes da África. No planalto paulista, a situação ainda era mais grave. O cultivo de trigo era tocado com o contingente indígena, renovado constantemente pelas entradas e bandeiras que assaltavam o interior e as reduções jesuíticos. Lá a escravidão ameríndia perdurou até meados do século XVIII.
Nas áreas não vinculadas à economia mercantil, enfim, o modelo explicativo defendido por Alencastro não se aplica. No entanto, o historiador afirmou: "... a escravidão africana é o modo dominante, enquanto o cativeiro e o trabalho compulsório índio aparecem como um modo secundário de exploração colonial" (p. 242). A premissa é válida para Bahia e Pernambuco, porém inadequada para São Paulo e Amazônia seiscentistas. Para construir o modelo explicativo, o historiador considerou que os enclaves americanos baseados no trabalho compulsório indígena eram inviáveis politicamente, pois estavam conturbados por conflitos e situados fora do controle metropolitano. Desse modo, Alencastro pretendeu contornar o problema e reduziu à tabula rasa as economias independentes ao mercado atlântico. A história de áreas periféricas se diluiu nas poeiras dos embates.
Crítica semelhante provém de um especialista em África. O estudo de Luiz Felipe Alencastro construiu uma argumentação valendo-se apenas do tráfico negreiro angolano, desconsiderando a complexidade das trocas. Alberto da Costa e Silva (Folha de S. Paulo, 09.09.00) destacou que, ao findar dos seiscentos, havia um intenso comércio entre o Brasil e a Costa do Ouro, onde escravos eram trocados por tabaco baiano. O tráfico negreiro ainda se ampliava para o Senegal, Guiné e aos reinos vilis, ao norte do rio Zaire. Essas áreas, por certo, não se adequavam ao modelo proposto por Alencastro, construído como um monotrilho, incapaz de abarcar a complexidade da História do Brasil.
O trato dos viventes, porém, promoveu um avanço magnífico das pesquisas em torno da escravidão africana, destacando os interesses e vínculos das elites brasílicas com os enclaves escravistas em Angola. Os estudos recentes, porém, reforçam que a colonização do Brasil não se restringiu ao tráfico e ao comércio atlântico. A inteligibilidade da História do Brasil também deve valer-se das economias periféricas: as coletas de drogas do sertão, a criação de gado e as atividades ligadas ao abastecimento interno. Iniciada nos seiscentos, a conquista portuguesa e brasílica do interior ainda não mereceu um estudo alentado para servir de contraponto à colonização realizada nas bordas atlânticas. Enfim, a formação do Brasil somente será decifrada depois de percorrer os fios de uma trama que nos liga à Europa, África e ao interior americano.
Ronald Raminelli é historiador, professor na Universidade Federal Fluminense.
