Estante
Reforma Política e Cidadania
Autor: Maria Victoria Benevides, Paulo Vannuchi e Fábio KercheAno: 2003
Editora: Fundação Perseu Abramo
Páginas: 512
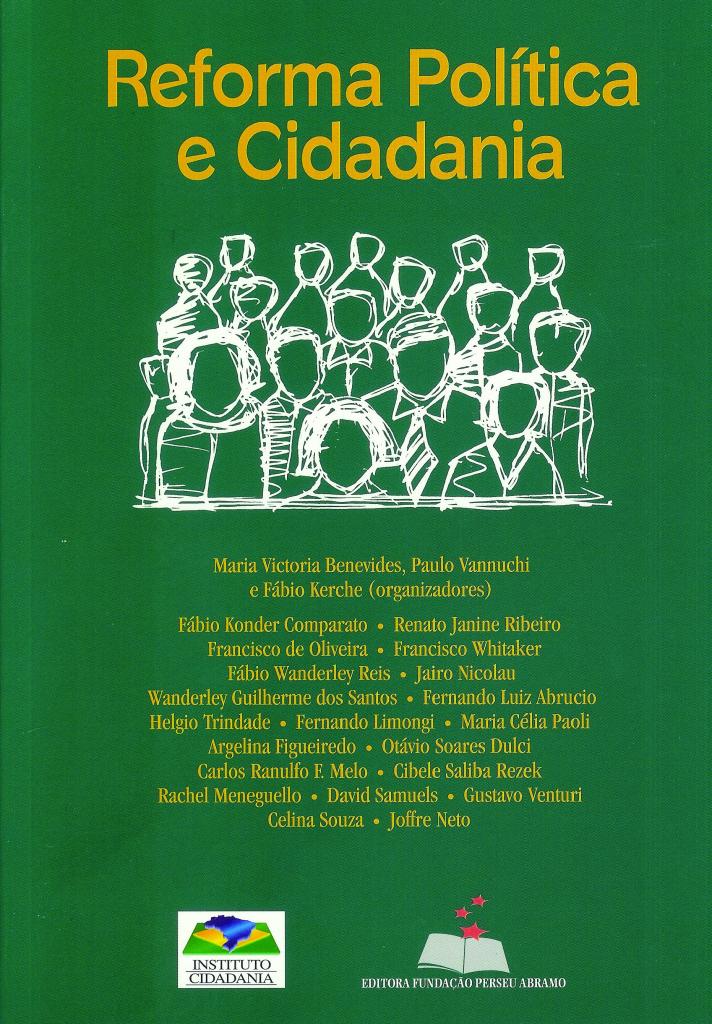 O governo Lula iniciou-se encaminhando ao Congresso três grandes reformas, modificando a Carta de 1988: a do sistema financeiro, a previdenciária e a tributária. As duas primeiras geraram polêmica no PT e a última teve sua tramitação dificultada pelos conflitos na arena federativa.
O governo Lula iniciou-se encaminhando ao Congresso três grandes reformas, modificando a Carta de 1988: a do sistema financeiro, a previdenciária e a tributária. As duas primeiras geraram polêmica no PT e a última teve sua tramitação dificultada pelos conflitos na arena federativa.
Nenhuma dessas reformas, contudo, foi discutida previamente com tanto cuidado, buscando a contribuição de especialistas, como a reforma política. Nem sequer teve destaque no início do governo, mas mereceu “um programa de estudos e debates sob o título Projeto Reforma Política” pelo Instituto da Cidadania1, culminando em três seminários (São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre). Estudiosos experts em diversos aspectos de nosso arcabouço institucional apresentaram suas análises. Muitos dos trabalhos resultam de pesquisas sistemáticas desenvolvidas na academia, constituindo valiosas contribuições para o debate. Por isso, o livro compõe um todo útil não apenas para o cidadão interessado, o militante informado e o quadro político, mas também para o estudante universitário que, em virtude de sua formação, tenha de estudar aspectos de nossa institucionalidade. O volume pode se constituir num excelente livro-texto para cursos de política brasileira devotados a destrinchar o funcionamento de nossa democracia. São dezoito capítulos dedicados a temas específicos, além de um apêndice com os debates ocorridos nos três seminários.
Os quatro primeiros artigos, a cargo de eminentes schollars da universidade brasileira, tratam de aspectos gerais do funcionamento da democracia. Fábio Wanderley Reis chama a atenção, dentre outros pontos, para a centralidade demasiada do tema da governabilidade no debate recente acerca da reforma política, antes enaltecendo a eficiência decisória que o valor da democracia. Como aponta o autor, “eficiência supõe fins dados ou não problemáticos, levando à indagação sobre como dispor de maneira apropriada os meios para alcançá-los. Já a democracia se distingue precisamente por problematizar os fins” (p. 17). De fato, Reis aponta um aspecto pouco explicitado de boa parte do debate: a suposição de que tudo o que obstaculiza a decisão governamental é ruim, devendo-se abrir os caminhos para que o governo governe. Todavia, fosse assim, poderíamos perguntar: para que, então, democracia? Para que um sistema de freios e contrapesos que procure evitar o abuso do poder?
Esse tema é trabalhado por Fábio Konder Comparato. Retomando a discussão clássica acerca dos limites institucionais ao exercício abusivo do poder, tece críticas aos excessos do Executivo brasileiro no período recente, traduzidos pelo uso desmesurado de medidas provisórias e pela iniciativa reiterada de emendar a Constituição – que segue no governo Lula. Sugere a adoção de medidas de disciplinamento da representação, como o recall e a partidarização da iniciativa de emendar o Orçamento. Sugere, ainda, mudanças nos procedimentos de nomeação de ministros de tribunais superiores, retirando poderes do Executivo. Wanderley Guilherme dos Santos demonstra como ao longo de nossa história republicana a democracia ganhou vigor e escala, com a ampliação do eleitorado e da competição política, esta pelo incremento contínuo do número de candidatos aos cargos legislativos. Sobre este último ponto poderíamos apenas questionar se tal incremento quantitativo talvez não apresente resultados qualitativamente apreciáveis para a competição, redundando em retornos marginais decrescentes a partir de um certo ponto.
Por fim, Hélgio Trindade aponta para o excessivo “politicismo” de certas análises, que descuraram de questões relativas às condições sociais, substantivas, cometendo um erro inverso ao da esquerda nos anos 1960. O problema central a ser tratado seria a representação, ultrapassando os limites do que define a teoria clássica acerca do tema, reinventando um novo Estado social, constituído por organizações públicas não-estatais, sobretudo conselhos representativos. No caso brasileiro, um avanço nesse sentido seria o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social criado por Lula.
Outros três artigos discutem mecanismos de democracia direta e participativa. No melhor deles, Maria Victoria Benevides aborda os mais diversos aspectos da questão, descrevendo e analisando o problema dos meios de comunicação e a importância da existência de órgãos sociais de mídia, o funcionamento de formas constitucionais de democracia direta (referendo e plebiscito), a iniciativa popular de lei e o Orçamento Participativo. Aliás, sobre este ponto, há um capítulo de Francisco de Oliveira, Maria Célia Paoli e Cibele Rezek que, infelizmente, trata muito rapidamente do tema, prendendo-se particularmente à discussão normativa, sem problematizar sua experiência concreta com maior profundidade. Uma pena, sobretudo tendo em vista a reconhecida competência acadêmica de seus autores. Por fim, a iniciativa popular de lei é tema do capítulo de Francisco Whitaker, um de seus principais propugnadores no país e co-autor de um livro sobre o assunto. Faz um bom histórico sobre a questão, mostrando inclusive como a iniciativa popular definhou, tornando-se “sugestão popular de lei”, por ocasião de sua regulamentação; mas a análise acaba prejudicada em função do tratamento demasiadamente normativo (moral), compreensível em função do próprio envolvimento militante do autor com o assunto.
Um capítulo merece tratamento à parte. É o de Renato Janine Ribeiro acerca do voto obrigatório. O autor refuta a idéia segundo a qual votar, como é um direito, não poderia ser uma obrigação. Segundo ele, para além do fato de que certos setores sociais marginalizados são, por essa mesma condição, mais propensos ao abstencionismo, o que acabaria por excluí-los ainda mais, é preciso considerar que liberdades públicas e privadas distinguem-se, de modo que aquilo que disser respeito não apenas ao indivíduo, mas ao grupo, escapa à discricionariedade própria das liberdades meramente privadas. Por isso, é dever coletivo identificar os grupos sociais que por alguma razão, constrangidos, participam menos, buscando o incremento dessa participação, pois “promover o voto dos que não votam certamente virá junto com a solução de outras carências sociais” (p. 179).
Há um núcleo de seis artigos em torno do mais discutido dos assuntos quando se trata de reforma política: os sistemas eleitoral e partidário. Jairo Nicolau discute a questão da representação proporcional no Brasil, apontando as principais características do sistema e mensurando as manifestações da desproporção representativa na Câmara dos Deputados – estadual e partidária. Projeta os possíveis efeitos das principais propostas de reforma em voga, demonstrando que em sua maioria aumentariam a desproporção e eliminariam a representação de setores minoritários do eleitorado. Ao fim, afere o efeito de cada reforma sobre a proporcionalidade do sistema. Otávio Dulci retoma o mesmo tema, fazendo uma boa análise histórica e de conjunto da evolução de nosso sistema partidário. Comparado ao de Nicolau, porém, seu texto não introduz grandes novidades quanto aos efeitos práticos de uma reforma.
Carlos Ranulfo Melo analisa a migração partidária na Câmara dos Deputados. Entre 1985 e 2001, em média 28,8% dos parlamentares mudaram de legenda depois de eleitos; 16,3% ao menos duas vezes na mesma legislatura. A mudança de partido tem baixíssimo custo político e mostra-se rentável aos deputados que pretendem fugir ao controle que lhes é imposto por seus líderes. Isso matiza o recente consenso de que o comportamento dos parlamentares é muito mais disciplinado do que se supunha outrora, um pretenso indicador da força de nossos partidos. Mostra também: (1) que a migração foi maior entre o “baixo clero”, que pouco tinha a ganhar permanecendo fiel a sua legenda; (2) que as migrações para fora do campo ideológico foram maiores na esquerda que na direita, graças sobretudo ao PDT; e (3) que as migrações se integraram à “grande política” congressual, em virtude do peso que tem o tamanho das bancadas na distribuição de recursos aos partidos. A melhor solução apontada para isso é a ampliação do prazo de filiação para concorrer nas eleições.
Rachel Meneguello e Gustavo Venturi abordam a relação entre eleições, partidos e opinião pública. A autora mostra que há uma ampliação da participação, acompanhada da queda na confiança em instituições representativas. Ao longo dos anos, a identificação partidária oscila bastante, mas cerca de metade do eleitorado não se identifica com nenhuma agremiação e não votaria caso o voto fosse facultativo. Curioso que isso convive com o fato de que a maioria considera muito importante a reforma política – colocando-a em 2002 como prioritária em relação à tributária e à previdenciária, quase empatada com a trabalhista –, além de condenar a migração entre legendas. Já Venturi discute as pesquisas de intenção de voto e sua divulgação, argumentando que bem explicadas, de forma a esclarecer o eleitorado sobre seu real significado, têm um impacto positivo sobre a cidadania, de modo que a discussão sobre sua proibição mereceria ser substituída pela consideração de sua regulamentação.
Por fim, com base nas prestações de contas à Justiça Eleitoral, David Samuels analisa o financiamento de campanha, aferindo as razões dos altos custos das eleições no Brasil. O sistema eleitoral proporcional de lista aberta “tende a incrementar os custos de campanha”, pois, na medida em que devem concorrer contra seus correligionários, ao mesmo tempo que contra seus adversários, os candidatos ao Parlamento precisam construir uma campanha personalizada, deixando de auferir ganhos de uma campanha coletiva, mais partidarizada. Outro fator a contribuir para isso seria o aumento do número de candidatos, enaltecido por W.G. dos Santos. Finalmente, a ausência de plataformas partidárias claras, substituídas pelo clientelismo, também elevaria os gastos. No nível presidencial, os gastos são igualmente elevados. O financiamento público provavelmente não eliminaria o risco do “caixa dois”, de modo que outras soluções são apontadas: limites mais baixos para doações e informação de gastos (e não apenas de arrecadação) durante a campanha (não apenas depois).
Quatro capítulos tratam de questões relacionadas ao processo decisório, em particular na dimensão legislativa. Celina Souza discute as dinâmicas de cooperação e conflito na elaboração do Orçamento. Além de excelente discussão panorâmica sobre diversas perspectivas teóricas de estudo das políticas públicas e do Orçamento em particular, a autora atenta para o problema da cada vez maior capacidade extrativa do Estado brasileiro, visível em nossa elevadíssima carga tributária – notando que, em 2000, nada menos que 71% do gasto federal se destinou à amortização da dívida! Mas seu foco está em demonstrar que os parlamentares brasileiros adotaram práticas mais cooperativas e coletivizadas na elaboração do Orçamento, restringindo a própria capacidade de fazer política de clientela, a despeito do aparente interesse em persegui-la. As causas disso seriam, no plano federal, a cada vez maior visibilidade pública do processo orçamentário e, nos municípios que adotaram o Orçamento Participativo, a incorporação ao processo decisório dos cidadãos. Não há, contudo, sugestões muito claras de reformas institucionais que favoreçam práticas cooperativas.
As práticas de nossos parlamentares são também abordadas por Joffre Neto, que analisa o Legislativo nos municípios de pequeno porte. O autor lastima a percepção, tanto de legisladores como de cidadãos, de que cabe ao vereador agir como um serventuário do Executivo na resolução de problemas administrativos. Lança mão de farto material estatístico indicando que o parlamentar local é visto antes como um prestador de assistência clientelística que como representante político universalista. Os parlamentares abdicam de suas funções legislativa e fiscalizadora em favor do Executivo, o que se refletiria também na fraqueza institucional dos Legislativos municipais. A despeito de um certo vezo normativo, tornando o estilo pouco objetivo, faz-se uma boa análise, com uma instigante conclusão: é equívoco imaginar que instituições válidas nos níveis federal e estadual seriam miniaturizáveis. Portanto, talvez fosse o caso de reconhecer o caráter mais eminentemente administrativo do governo de pequenas localidades, readequando seu desenho institucional. Proposta ousada!
Fernando Abrucio aborda a questão federativa. Partindo de uma análise mais geral e comparativa, aponta o originário caráter centrífugo e assimétrico de nosso federalismo, com o agravante da oligarquização do poder no plano estadual, onde se encontra o “grande pólo anti-republicano na Federação brasileira” (p. 262). Esses problemas permanecem, impulsionados pelo caráter descentralizado das eleições fundacionais de 1982 e pelo ímpeto autonomista que ganhou força desde então, configurando um federalismo predatório (o estadualismo), cuja superação passaria pela construção de novas estruturas de relacionamento entre os níveis de governo, reduzindo assimetrias, propiciando cooperação e aprimorando o processo de elaboração das políticas. O Senado teria papel importante, concentrando-se mais em questões federativas, tornando-se uma “Casa dos estados”. Organismos federais de política regional deveriam ser submetidos a maiores controles, sendo espaço de participação das sociedades civis estaduais.
Por fim, Argelina Figueiredo e Fernando Limongi discutem as medidas provisórias, demonstrando que o grande poder do presidente da República neste caso deriva da possibilidade de promover mudanças irreversíveis do status quo, transformando as condições sob as quais legisladores decidem. Ao contrário do que se supõe, o uso reiterado das MPs pelo Executivo não é recurso extraordinário de um presidente minoritário em conflito com o Parlamento. Antes, é recurso decisório célere acionado por um chefe de governo com apoio parlamentar, que decide preservando os interesses de sua base, amparado por uma delegação legislativa. A aprovação da Emenda Constitucional 32, limitando a edição e reedição de MPs, reduziu um pouco o poder do Executivo nesse campo, mas não o eliminou.
Para finalizar, poderia dizer que o livro apenas se ressente de duas ausências: uma discussão sobre o sistema de Justiça (Judiciário e Ministério Público) e outra sobre a burocracia pública. Os conflitos entre o presidente Lula e a “caixa-preta” do Judiciário, por um lado, e as acusações de aparelhamento da máquina, por outro, demonstram o quanto tais temas mereceriam atenção, não podendo ser encarados como reformas à parte da política. Aliás, a insistência das lideranças do Judiciário em reafirmar sua condição de Poder de Estado revela o quanto se trata de um tema político. Sua ausência é ainda mais sentida se considerarmos que um dos organizadores (Fábio Kerche) é especialista no assunto. Fora isso, parece-me que o volume (de edição muito bem-cuidada) é utilíssimo aos interessados no funcionamento de nossa democracia.
Cláudio Gonçalves Couto é professor do Departamento de Política da PUC-SP
